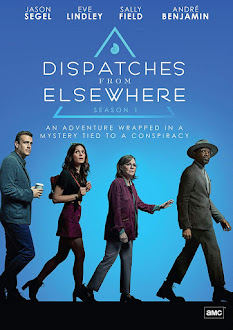Já que está todo mundo falando de Big Brother, eu gostaria de falar também. Mas como eu não acompanhei sistematicamente nenhuma edição - nem mesmo a atual - pretendo fazer aqui apenas algumas considerações gerais sobre o programa, pensando nele como uma espécie de experimento nada ortodoxo de psicologia social - um experimento que, cabe apontar, não seria jamais aprovado por qualquer Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. De toda forma, é fato que muitos experimentos clássicos em psicologia social se assemelham imensamente a "pegadinhas" e a "reality shows" na medida em que que buscam analisar reações espontâneas dos participantes diante de determinadas situações artificialmente concebidas - e uma questão importante sobre os reality shows que já vale à pena apontar é que por mais artificiais que sejam as situações criadas pela direção do programa, de fato há sempre algo de "reality" em jogo, já que seria impossível aos participantes agir de forma totalmente autocontrolada ou dissimulada 24 horas por dia, especialmente após algum tempo de confinamento. Uma outra questão, amplamente demonstrada por inúmeros experimentos em psicologia social, é que todos somos profunda e continuamente influenciados pelas circunstâncias - e isto vale tanto para os participantes do Big Brother quanto para cada um de nós. A principal diferença, nesse caso, é que eles, ao contrário de nós, estão vigiados todo o tempo por dezenas, talvez centenas de câmeras que captam (quase) tudo o que falam e fazem e que transmitem todo esse imenso conteúdo para quem quiser assistir. Mas com relação ao poder das circunstâncias de influenciar e, de fato, moldar o nosso comportamento, estamos todos no mesmo barco. Como bem afirma o psicólogo social Sam Sommers no sensacional livro O poder das circunstâncias, "o mundo que nos rodeia está constantemente nos influenciando, colorindo a forma como pensamos e orientando como nos comportamos. No entanto, raramente notamos".
E nós raramente notamos as circunstâncias que nos influenciam pelo mesmo motivo pelo qual se imagina que os peixes não notem a água ao seu redor: devido a um processo quase inevitável de naturalização das forças que nos envolvem. Como afirma Sommers "nosso esquecimento típico sobre o poder das circunstâncias surge porque a maior parte de nossa existência diária ocorre em ambientes familiares, nos limites da rotina conhecida. É preciso o choque do desconhecido para lembrar o quão cego você é ao seu ambiente de sempre". O Big Brother, neste sentido, se constitui como um ambiente novo - e, portanto desconhecido - para seus participantes e, justamente, por isso, revela de uma forma bastante singular o poder das circunstâncias de moldar o self e o comportamento. É muito comum, nesse contexto atípico, que as pessoas ajam de uma forma diferente de como gostariam de agir e também de como agiram no passado em suas vidas cotidianas - algumas chegam a se surpreender, depois que saem da casa, com o que fizeram e falaram enquanto estavam lá. E o motivo é que tais comportamentos faziam sentido naquela circunstância específica, mas não em outras circunstâncias. Isto significa também que a ideia, amplamente disseminada, de que os participantes mostram no programa sua "verdadeira face" não faz muito sentido já que nós agimos de diferentes formas em diferentes contextos. Pense por exemplo na forma como você se comporta - isto é, o que você faz e fala e o que não faz e não fala - com seus amigos, com sua família e com seus colegas de trabalho. Muito provavelmente - e os experimentos em psicologia social demonstram isso - você age de formas distintas em cada um destes grupos e a razão é que nós não temos apenas um único e coerente "eu" mas múltiplos, a depender, é claro, das circunstâncias. Como afirma Sommers, nós somos "facilmente seduzidos pela teoria do caráter estável", quando, na verdade, "boa parte do que somos, de como pensamos e do que fazemos é motivada pelas situações em que nos encontramos". Isto não quer dizer que as pessoas não tenham uma personalidade mas sim que aquilo que chamamos de personalidade engloba múltiplas e contraditórias características que afloram (ou não afloram) de acordo com as circunstâncias específicas. Assim, uma mesma pessoa pode manifestar um comportamento mais introvertido em uma situação e um comportamento mais extrovertido (ou menos introvertido) em outra. Isto não significa, contudo, que a pessoa não tenha uma personalidade mais introvertida mas que em determinadas situações - por exemplo, na presença de pessoas conhecidas - essa característica se aflora menos, dando espaço temporariamente a uma outra faceta. Todos nós, aliás, temos inúmeras facetas que manifestamos ou não manifestamos em circunstâncias específicas. Na casa do Big Brother, por exemplo, os participantes manifestam entre si variadas e, por vezes, contraditórias facetas. No entanto a edição do programa reduz toda esta complexidade ao transformá-los em personagens de uma certa narrativa que a direção pretende vender para o público. E é justamente nessa narrativa ultrasimplificadora da realidade que se encontra o elemento de show do reality show.
Toda esta discussão me traz a uma outra questão: se somos fortemente influenciados pelas circunstâncias isto significa que não somos responsáveis por nossas ações e que a "culpa" de nos comportarmos de determinada maneira é apenas do contexto? É claro que não! Como já deixei claro em diversas ocasiões defendo a existência do livre-arbítrio ainda que entenda que somos contínua e profundamente influenciados por inúmeros fatores que fogem ao nosso controle pessoal. Se não houvesse algum livre-arbítrio, não poderíamos jamais ser responsabilizados e responsabilizar alguém por nada. Como afirma Steven Pinker no livro Tábula Rasa, "se o comportamento não é totalmente aleatório, há de ter alguma explicação; se o comportamento fosse totalmente aleatório, não poderíamos responsabilizar a pessoa em nenhum caso. Portanto, se alguma vez responsabilizarmos pessoas por seu comportamento, terá de ser a despeito de qualquer explicação casual que julguemos cabível, independente de ela invocar genes, cérebro, evolução, imagens da mídia, dúvida sobre si mesmo, criação ou convívio com mulheres briguentas". Tudo isto significa que os participantes do Big Brother são sim responsáveis por tudo o que fazem e falam enquanto estão confinados na casa, ainda que sejam fortemente influenciados por circunstâncias específicas. Penso, nesse sentido, que devemos sempre levar em conta, em nossas análises e opiniões, tanto os comportamentos individuais dos participantes quanto as forças sociais a que eles estão sujeitos - e que influenciam fortemente seus comportamentos embora, repito, não os desresponsabilizem. Como desconsiderar, por exemplo, o efeito da competitividade que permeia todo o programa? Se os participantes são instigados a competir todo o tempo uns com os outros (por pequenos "prêmios" e, especialmente, pelo prêmio principal) como esperar que a regra seja a colaboração? Se o que vale é a racionalidade do cada um por si (pois apenas um vencerá) como esperar que as pessoas ajam de uma outra forma que não atacando com força seus oponentes? E vejam bem que eu não estou negando que haja espaço para colaboração - pois há; estou apenas apontando que a lógica central deste jogo (e de quase todos os jogos) é a da competitividade. E esta lógica certamente influencia o comportamento dos participantes, que tendem a se juntar em grupos especialmente para derrotar outros grupos - o que, curiosamente, os fortalece como indivíduos. E isto, por sua vez, leva o participante à um processo de conformidade e obediência ao grupo ao qual ele se vinculou e também, como consequência, a uma grande animosidade com relação aos indivíduos de fora do seu grupo. Não é de se estranhar, portanto, que ocorram tantas brigas entre indivíduos de grupos "rivais". E o motivo é que eles são - e todos somos - seres fundamentalmente sociais e, exatamente por isso, todas nossas ações e decisões são profundamente influenciadas pelas circunstâncias que nos envolvem.