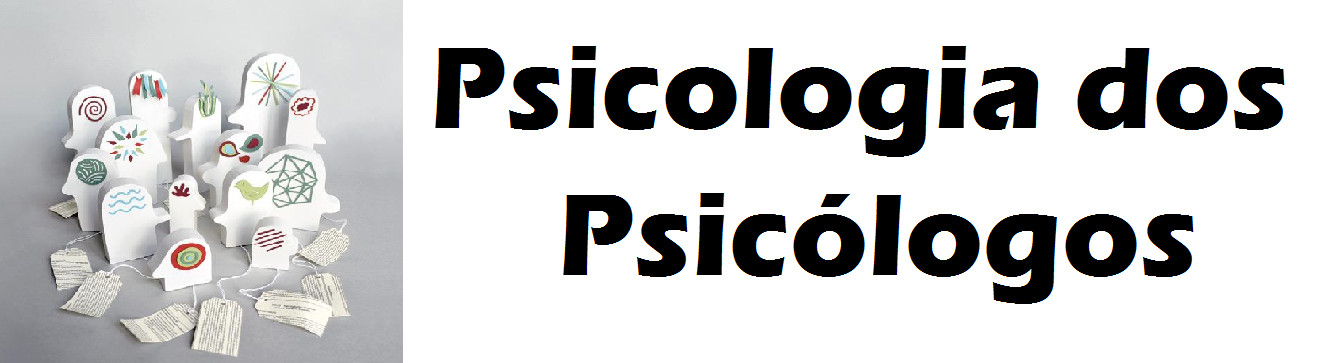O
que seria do mundo sem as pessoas obsessivas? Fiquei pensando nessa
questão após finalizar duas minisséries documentais fantásticas
recém-lançadas pela Netflix: "Prescrição fatal" e "Quem matou Malcolm
X?". Nos dois casos temos como personagens centrais sujeitos
extremamente obsessivos, cada uma com determinada questão, e, que, por
conta de tais obsessões, fizeram investigações super-importantes. No
caso de Prescrição fatal, originalmente denominada The pharmacist,
acompanhamos as investigações realizadas de forma minuciosa pelo
farmacêutico Dan Schneider: inicialmente sobre a morte de seu filho,
enquanto este comprava drogas em um bairro pobre de sua cidade, e
posteriormente sobre um complexo esquema de prescrição e venda de um
opióide fortíssimo, altamente viciante e propício à overdose chamado
Oxycontin. É a investigação iniciada por este sujeito que descortina
toda uma rede de médicos antiéticos e indústria farmacêutica gananciosa e
desencadeia um importante processo de ampliação do controle das
prescrições de opióides - e também, como efeito colateral indesejado, um
aumento no consumo de heroína nos Estados Unidos. Já no segundo caso, o
documentário acompanha as investigações, igualmente minuciosas,
realizadas pelo "historiador leigo" Abdur-Rahman Muhammad sobre quem
teria assassinado o grande lider negro Malcolm X em 1965. A obsessão de
Abdur com esse caso, relacionada à sua admiração por Malcolm X e à sua
percepção de que a versão oficial dos acontecimentos não é verdadeira,
dominou toda a sua vida e o tornou o maior especialista vivo sobre este
assassinato. Mas para além dos temas específicos destas duas
minisséries, elas expõem de forma bastante interessante a importância de
indivíduos obsessivos e obcecados como Dan e Abdur. Se todos fossem
absolutamente sensatos, ajustados e obedientes - o que costumamos chamar
de "normal" - a humanidade perderia tremendamente, não só em
diversidade, mas também no avanço do conhecimento sobre si mesma e sobre
o mundo.
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020
A consciência é real
Compartilho abaixo a tradução que fiz do artigo Consciousness is real, publicado no site AEON no dia 16 de Dezembro de 2019 pelo professor de filosofia da City College of New York Massimo Pigliucci. Não concordo com partes da argumentação do autor - em especial com sua crítica à visão dualista, que ele acaba defendendo sem se dar conta (o que é muito comum) e também com sua expectativa de que um dia a neurociência compreenderá plenamente o funcionamento da consciência fenomenal, o que duvido muito - mas acho importante sua visão da consciência como algo real e não uma ilusão, como alguns filósofos e neurocientistas tem defendido, de forma equivocada, ao longo dos anos.
Atualmente está na moda rotular a consciência como uma "ilusão". Isso, por sua vez, gera a impressão, especialmente entre o público leigo, de que a maneira como normalmente pensamos sobre nossa vida mental tem sido drasticamente alterada pela ciência. Embora isso seja verdade em um sentido muito específico e técnico, a consciência permanece indiscutivelmente a característica evolutiva mais distinta da humanidade, permitindo não apenas experimentarmos o mundo, como fazem outras espécies animais, mas também refletirmos deliberadamente sobre nossas experiências e mudarmos o curso de nossas vidas a partir de tais reflexões.
Muita confusão, como veremos, está relacionada ao que queremos dizer exatamente com "consciência" e "ilusão". De forma a organizar tais ideias construtivamente, em vez de simplesmente vagarmos por uma vasta literatura sobre filosofia da mente e da ciência cognitiva, considere o fascinante ensaio de Keith Frankish para o site Aeon [denominado The consciousness illusion]. Ele começa fazendo uma distinção entre consciência fenomenal [phenomenal consciousness] e consciência de acesso [acess consciousness]. A consciência fenomenal é aquela que produz a qualidade subjetiva da experiência, que os filósofos chamam de 'qualia'. É essa consciência que possibilita a nós (e, presumivelmente, a várias outras espécies animais) experimentar como é, por exemplo, enxergar a cor vermelha, saborear uma fruta ou escrever ensaios sobre filosofia da mente.
Por outro lado, é a consciência de acesso que nos permite perceber as coisas ao nosso redor. Como afirma Frankish, a consciência de acesso é o que "torna a informação sensorial acessível ao resto da mente e, portanto, a 'você '- a pessoa constituída por esses sistemas mentais incorporados". Antes que você possa experienciar a cor vermelha, você precisa ser capaz de realmente enxergar tal cor. Frankish concorda que a consciência de acesso é uma coisa real, não uma ilusão, embora ele acrescente corretamente que ainda estamos muito distantes em nossa busca por entendê-la cientificamente. Talvez o aspecto mais conhecido da consciência de acesso seja o sistema visual, a parte do sistema nervoso central que nos permite ver o mundo. Conhecemos bastante sobre os aspectos anatômicos, fisiológicos e neurobiológicos desse sistema, e é razoável presumir que outros constituintes da consciência de acesso trabalhem de maneira semelhante e que a ciência possa, pelo menos em princípio, entendê-los melhor através de abordagens experimentais e observacionais.
Mas, argumenta Frankish, vários filósofos diriam que, mesmo se tivéssemos uma descrição completa da consciência de acesso, ainda haveria algo fundamentalmente incompleto em nosso retrato da consciência como um todo. Essa parte faltante - a consciência fenomenal - é o que fundamenta o que é sentir algo ou, como Thomas Nagel apontou em seu artigo clássico, 'Como é ser um morcego?' (1974).
Aqui é onde ocorre a divisão fundamental na filosofia da mente entre "dualistas" e "ilusionistas". Ambos os campos concordam que há mais na consciência do que o aspecto do acesso e, que além disso, a consciência fenomenal parece ter propriedades não-físicas. A partir daí, pode-se seguir em duas direções muito diferentes: o caminho científico, tentando explicar como a ciência pode nos fornecer uma descrição satisfatória da consciência fenomenal, como faz Frankish; ou o caminho anti-científico, alegando que a consciência fenomenal está fora do domínio de competência da ciência, como [o filósofo] David Chalmers tem discutido durante a maior parte de sua carreira, por exemplo, em seu livro The Conscious Mind (1996).
Ao adotar a posição anti-científica, Chalmers e companhia são forçados a se tornar dualistas. Dualismo é a noção de que os fenômenos físicos e mentais são de alguma forma irreconciliáveis, dois tipos diferentes de seres, por assim dizer. Classicamente, o dualismo diz respeito a duas substâncias: segundo [o filósofo] René Descartes, o corpo é feito de uma substância física (em latim, res extensa), enquanto a mente é feita de uma substância mental (em latim, res cogitans). Atualmente, graças aos avanços na física e na biologia, ninguém mais leva a sério o dualismo de substâncias. A alternativa é algo chamado dualismo de propriedades, que reconhece que tudo - corpo e mente - é feito das mesmas coisas básicas (quarks e assim por diante), mas que essas coisas de alguma forma (observe a imprecisão aqui) mudam quando são organizadas em cérebros e fazem surgir certas propriedades especiais que não existem em nenhum outro lugar do mundo material (Para saber mais sobre a diferença entre o dualismo de propriedades e de substâncias, consulte a definição de Scott Calef)
Os "ilusionistas", por outro lado, seguem o caminho científico, aceitando o fisicalismo (ou o materialismo, ou algum outro "ismo" similar), o que significa que eles pensam - em consonância com a ciência moderna - não apenas que tudo é feito do mesmo tipo básico de coisas, mas que não existem barreiras especiais que separam os fenômenos físicos dos mentais. No entanto, como essas pessoas concordam com os dualistas que a consciência fenomenal parece algo fantasmagórico, a única opção para eles parece ser a de negar a existência do que quer que pareça ser não-físico. Daí a noção de que a consciência fenomenal é um tipo de ilusão.
O ilusionismo foi qualificado como "a afirmação mais idiota já feita" por Galen Strawson na The New York Review of Books no ano passado, mas é defendido por outros filósofos importantes, principalmente por Daniel Dennett. De fato, Dennett provavelmente foi quem iniciou essa tendência no início dos anos 90, com a publicação de seu influente livro Consciousness Explained (1991) - que, embora certamente seja muito interessante, não explicava de fato a consciência. De fato, meu preferido dentre os livros de Dennett sobre esse assunto é o Elbow Room: The Varieties of Free Will Will Worth Wanting (1984).
Embora eu esteja tentado a simpatizar com Strawson aqui, acho que Dennett está mais próximo da realidade. Para entender o porquê, vamos considerar sua renomada analogia sobre a consciência fenomenal, que ele chama de "bombeamento de intuição" [intuition pump], conforme apresentado em Consciousness Explained. Dennett sugere que a consciência fenomenal é uma "ilusão do usuário" [user illusion], semelhante aos ícones que estamos acostumados a ver nas telas de nossos computadores (e também em tablets e smartphones). Aqui está como ele desenvolve sua analogia:
Quando eu interajo com um computador, tenho acesso limitado aos eventos que ocorrem dentro dele. Graças aos esquemas de apresentação elaborados pelos programadores, eu tenho acesso a uma metáfora audiovisual elaborada, a um drama interativo encenado no palco do teclado, mouse e tela. Eu, como usuário, estou sujeito a uma série de ilusões benignas: tenho a impressão de que sou capaz de mover o cursor do mouse (um servo poderoso e visível) para o mesmo lugar no computador em que mantenho um arquivo e, uma vez que vejo que o cursor chega 'lá', pressionando uma tecla eu consigo acessar o arquivo, movendo-o por um percurso que se desenrola na frente de uma janela (a tela) sob meu comando. Posso fazer todo tipo de coisa acontecer dentro do computador digitando vários comandos, pressionando vários botões, e não preciso saber os detalhes. Eu mantenho o controle confiando no meu entendimento das metáforas audiovisuais detalhadas proporcionadas pela ilusão do Usuário [User illusion].
Esta é realmente uma descrição muito poderosa (metafórica) da relação entre a consciência fenomenal e o mecanismo neural subjacente que a torna possível. Mas por que diabos a chamaríamos de "ilusão"? O termo lembra truques, fumaça e espelhos, o que definitivamente não é o que está acontecendo. Ícones de computador, cursores e outros elementos não são ilusões, são representações causalmente eficazes dos processos subjacentes da linguagem de máquina. Seria tedioso demais para a maioria dos usuários pensar em termos de linguagem da máquina e lento demais para interagir com o computador dessa maneira. É por isso que os programadores nos deram ícones e cursores. Mas eles estão causalmente conectados ao código subjacente da máquina, e é por isso que podemos realmente fazer as coisas acontecerem em um computador. Se fossem ilusões, nada aconteceria - seriam epifenômenos causalmente inertes.
Ou pegue um exemplo mais mundano. Você chamaria o volante de seu carro de uma ilusão? E, no entanto, quando você muda de um lado para o outro, definitivamente não está ciente dos (cada vez mais) complexos mecanismos que traduzem os movimentos simples que você faz em seu carro. Quando você gira o volante de maneira circular, as rodas do seu carro não giram da mesma maneira, elas mudam para a direita ou para a esquerda no plano horizontal (é por isso que você poderia ter carros com alavancas se movendo para a direita ou para a esquerda, ao invés de girar volantes). O volante, portanto, é, de certo modo, uma representação do que o carro fará se você agir de uma maneira ou de outra, e funciona porque está conectado causalmente à maquinaria subjacente de uma maneira que possibilita você operar com eficiência essas máquinas sem estar ciente disso.
A consciência fenomenal opera de forma semelhante. Os sentimentos e pensamentos que temos de como é experimentar determinada sensação são representações de alto nível dos mecanismos neurais subjacentes (de natureza totalmente diferente) que nos permitem perceber, reagir e navegar pelo mundo. Ao invés de programadores mais ou menos inteligentes, temos que agradecer bilhões de anos de uma evolução cega por seleção natural por essas representações causalmente eficazes. Chamá-las de ilusões é conduzir nosso pensamento para caminhos improdutivos, levando-nos - se não formos cuidadosos - a afirmações metafísicas e científicas que são tão problemáticas quanto as de Chalmers e companhia, e que Strawson não está inteiramente errado ao chamar de 'idiotas'.
Certamente é verdade, como sustentam os ilusionistas, que não temos acesso aos nossos próprios mecanismos neurais. Mas não precisamos disso, assim como um usuário de computador não precisa conhecer a linguagem da máquina - e, de fato, é muito melhor que não conheça. Isso não significa que estamos de alguma forma enganados sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos. Não mais do que eu, como usuário de computador, posso estar enganado sobre qual 'pasta' contém o 'arquivo' no qual escrevi este ensaio.
Este papo sobre ilusão pode ser desencadeado pelo que eu vejo como uma tentação reducionista, a noção de que níveis mais baixos de descrição - neste caso, o neurobiológico - são de algum modo mais verdadeiros ou os únicos verdadeiros. A falácia desse tipo de pensamento pode ser trazida à luz de duas maneiras. Em primeiro lugar, e mais obviamente, por que parar no nível neurobiológico? Por que não dizer que os neurônios são ilusões, uma vez que são realmente feitos de moléculas? Mas espere! As moléculas também são ilusões, pois são realmente feitas de quarks. Ou cordas. Ou campos. Ou o que quer que seja a última novidade na física fundamental.
De fato, esse modo de pensar é atraente para alguns reducionistas gananciosos, mas é realmente tolo pela simples razão de que é insustentável. E é insustentável porque, quando se trata do entendimento humano, diferentes níveis de descrição são úteis para diferentes propósitos. Se estamos interessados na bioquímica do cérebro, o nível adequado de descrição é o subcelular, tomando níveis mais baixos (por exemplo, o quantum) como condições de base [backgroud conditions]. Se queremos uma imagem mais ampla de como o cérebro funciona, precisamos avançar para o nível anatômico, que possui todos os níveis anteriores, do subcelular ao quântico, como condições de base. Mas se queremos conversar com outros seres humanos sobre como nos sentimos e o que estamos vivenciando, é o nível psicológico da descrição (o equivalente aos ícones e cursores de Dennett) que, longe de ser ilusório, é o mais valioso. É por isso que a antiga proposta de Paul e Patricia Churchland - de substituirmos a linguagem da "psicologia popular", digamos, sobre dor, por uma linguagem mais "científica" sobre o disparo de fibras C (parte do substrato neural que torna possível sentir a dor) - era realmente boba. Isso simplesmente não vai acontecer, assim como todos nós, usuários de computador, não vamos aprender de repente a linguagem da máquina e deixar de lado os cursores e ícones.
Quando os ilusionistas argumentam que o que experienciamos como qualia não é 'nada parecido' com nossos mecanismos mentais internos reais, eles estão, de certa forma, certos. Mas eles também parecem se esquecer que tudo o que percebemos do mundo exterior é uma representação e não a coisa-em-si. Veja o sistema visual, que, como mencionei anteriormente, é um dos exemplos mais bem compreendidos de consciência de acesso e que torna a consciência fenomenal possível. Na realidade, nossos olhos percebem uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético, determinada pelo ambiente específico em que evoluímos como primatas sociais, bem como pelo tipo de radiação que sai do Sol e passa pelos filtros da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há muita coisa que não vemos. De modo algum.
Mesmo o fato de vermos o mundo do jeito certo, ao invés de de cabeça para baixo, é um truque (uma "ilusão"?) do cérebro, uma vez que a ótica de nossos olhos é tal que objetos externos geram um conjunto invertido de sinais atingindo nossa retina. É o cérebro que reinterpreta os impulsos elétricos correspondentes para que possamos ver o mundo corretamente (veja aqui) Algumas pessoas (mas não todas) podem experimentar o quão bizarro isso é usando um óculos invertido [upside-down goggles]. Esses óculos invertem a imagem vinda de fora antes que os sinais estimulem a retina, mostrando aos sujeitos como seria o mundo se o cérebro deles não compensasse a inversão. Em algumas pessoas, o cérebro se adapta rapidamente e reinverte o padrão de sinal, para que o mundo acabe parecendo "normal" novamente. Isto é, até que os sujeitos tirem os óculos e vejam o mundo de cabeça para baixo até o cérebro compensar mais uma vez. Por que diabos as coisas funcionam dessa maneira? Porque o olho humano evoluiu para utilizar os princípios básicos da ótica, mas o cérebro aperfeiçoou este mecanismo desde que percebeu que é mais fácil para os seres humanos navegar no mundo se o enxergarem do lado certo, e não de forma invertida.
Seguindo John Searle, penso que a consciência é um avançado mecanismo biológico com valor adaptativo e que tratá-la como uma ilusão é, em grande medida, uma negação dos dados que precisam ser explicados. Em seu livro A redescoberta da mente (1992), Searle escreve:
Aquilo em que quero insistir incessantemente é que podemos aceitar os fatos óbvios da física - por exemplo, que o mundo é composto inteiramente de partículas físicas em campos de força - sem, ao mesmo tempo, negar os fatos óbvios de nossas próprias experiências - por exemplo, que somos todos conscientes e que nossos estados conscientes têm propriedades fenomenológicas irredutíveis bastante específicas.
'Irredutibilidade' aqui não é um conceito místico e pode ser compreendido de várias maneiras. Não sei em que direção o próprio Searle se inclina, mas penso na consciência como um fenômeno fracamente emergente [weakly emergent], não muito diferente, digamos, da umidade da água (embora muito mais complicado). Moléculas individuais de água têm várias propriedades físico-químicas, mas a umidade não é uma delas. Elas desenvolvem essa propriedade somente sob circunstâncias ambientais específicas (em termos de temperatura e pressão ambiental) e somente quando há um número suficientemente grande delas. Fundamentalmente, as propriedades da água dependem não apenas do número e do arranjo das moléculas, mas também de como as próprias moléculas são constituídas. Se elas tivessem um número diferente de nêutrons ou elétrons em seus átomos, ou um número diferente de átomos, elas teriam diferentes propriedades.
Os fenômenos mentais funcionam de forma semelhante, tanto no caso da consciência de acesso quanto no caso da consciência fenomenal. Embora não exista nada de fantasmagórico nisso (é preciso dizer adeus a toda forma de dualismo), números e arranjos específicos de neurônios parecem não ser suficientes para produzir tais fenômenos. Os neurônios envolvidos também precisam ser feitos das (e produzir as) coisas certas: não é apenas a forma como eles estão organizados no cérebro que gera o truque, mas também são necessárias certas propriedades físicas e químicas específicas que as células baseadas em carbono possuem, que as alternativas baseadas em silício podem possuir ou não (é uma questão empírica aberta) e que cartolina, por exemplo, definitivamente não possui.
Segue-se que uma explicação da consciência fenomenal virá (se vier - não há garantia de que, apenas porque queremos saber algo, eventualmente descobriremos uma maneira de realmente compreendê-lo) da neurociência e da biologia evolutiva, uma vez que a compreensão do cérebro humano será comparável à nossa compreensão do funcionamento interno de nossos próprios computadores. Veremos claramente a conexão entre os mecanismos subjacentes e as representações causalmente eficazes (não ilusões!) que nos permitem trabalhar eficientemente com computadores, sobreviver e reproduzir em nosso mundo como organismos biológicos.
Os seres humanos e suas imperfeições: breves reflexões sobre a série Fleabag
Assisti as duas pequenas temporadas da premiada série britânica Fleabag - são apenas 12 episódios com cerca de 25 minutos cada - e minhas impressões são contraditórias. Ao mesmo tempo em que não achei a série tudo isso que as premiações e as críticas dão a entender, algumas questões e situações da série não saem da minha mente. Pra começo de conversa, a série não é, definitivamente, uma comédia, apesar de ter momentos hilários - especialmente na primeira temporada. Fleabag é um drama - pesado até - sobre as complicadas e ambíguas relações humanas. Mais precisamente é possível dizer que se trata de um drama existencial - com proximidades temáticas e etárias (os protagonistas estão na casa dos 30) com a série Master of none. A protagonista, interpretada pela talentosa atriz Phoebe Waller-Bridge, que também é responsável pelo roteiro, é uma mulher no mínimo complicada e de fato bastante desagradável - e é o talento e complexidade da interpretação da atriz que faz com que de alguma forma gostemos e nos identifiquemos com Fleabag (literalmente "saco de pulgas" mas que, na verdade, é uma expressão inglesa usada para se referir a pessoas desagradáveis). Pois bem, Fleabeg faz muita merda, repetidas vezes, prejudicando aqueles que ela ama e especialmente a si mesma - mas acabamos por perdoá-la por entender que se trata de uma pessoa triste, perdida e solitária. O forte da série aliás, é a identificação que ela proporciona (ou, pelo menos proporcionou para mim) com a imperfeita e frágil protagonista. Fleabag não é perfeita nem feliz como as pessoas tentam se mostrar nas redes sociais. Ela não tem respostas para muitas perguntas e se encontra constantemente perdida com relação ao próprio caminho. E nesta busca por respostas e caminhos ela se equivoca de formas inimagináveis - como todos nós (#quemnunca?). Enfim, trata-se de uma série que faz pensar sobre as imperfeições dos seres humanos e de suas relações. Terminei a série melancólico, com um gosto amargo na boca.
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020
Humildade e insegurança são características de um bom terapeuta
Compartilho abaixo a tradução que fiz do interessante artigo Humility and self-doubt are hallmarks of a good therapist, publicado no site AEON no último dia 5 de Fevereiro pela professora e pesquisadora de psicologia clínica da Universidade de Oslo Helene Nissen-Lie. OBS: optei por traduzir self-doubt por insegurança em função da tradução literal, auto-dúvida (no sentido de dúvidas sobre a própria capacidade) não ser comumente utilizada em português.
"O problema do mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre seguros de si e as pessoas mais sábias cheias de dúvidas." Esse fenômeno - observado na década de 1930 pelo filósofo inglês Bertrand Russell - tem um nome técnico, o efeito Dunning-Krüger. Este efeito diz respeito à tendência de as pessoas com os piores desempenhos superestimarem a própria performance, enquanto aquelas com os melhores desempenhos subestimarem a si mesmas. O paradoxo de Dunning-Krüger foi encontrado em ambientes acadêmicos e empresariais, mas e no contexto da psicoterapia? É melhor ter um terapeuta confiante ou alguém com inseguranças?
Infelizmente, a auto-avaliação dos psicoterapeutas também é tendenciosa. Quando solicitados a classificar seus próprios desempenhos na psicoterapia, os terapeutas tendem a se superestimar. Além disso, como apontou um estudo, o excesso de confiança era mais típico daqueles terapeutas classificados como menos competentes por um avaliador independente. Em contraste, outros estudos descobriram que são os terapeutas que se avaliam mais negativamente que geralmente são considerados os mais competentes por especialistas independentes.
Inspirado por essas descobertas, um estudo alemão recente comparou as estimativas dos terapeutas sobre o progresso de seus clientes com a melhora real destes com a terapia. Os resultados fornecem a evidência mais convincente até o momento da humildade como uma virtude terapêutica. Quanto mais modesta ou conservadora a estimativa de um terapeuta sobre o progresso de seus clientes, mais os sintomas destes diminuíam e a qualidade de vida aumentava.
Tais achados ajudam a explicar o resultado de uma série de estudos de psicoterapia naturalista que meus colegas e eu conduzimos recentemente, nos quais avaliamos a contribuição de inúmeras variáveis do terapeuta para os resultados da terapia. Uma descoberta em particular se destacou: os terapeutas com pontuações mais altas em insegurança profissional (por exemplo, aqueles que não tinham confiança de que poderiam ter efeitos benéficos sobre os clientes e se sentiam inseguros sobre a melhor maneira de lidar eficazmente com determinada pessoa) tendem a receber classificações mais positivas de seus clientes em termos da aliança terapêutica (isto é, da qualidade do relacionamento entre terapeuta e cliente) e dos resultados da terapia. Essa descoberta nos surpreendeu a princípio. Acreditávamos que menos - e não mais - insegurança seria algo benéfico para o cliente. No entanto, o resultado faz todo sentido à luz das pesquisas anteriores que mostraram os benefícios da humildade do terapeuta.
A disposição para ouvir o outro provavelmente é central para explicar por que a humildade é benéfica. Uma atitude humilde também pode ser necessária para que os terapeutas estejam abertos ao feedback sobre o progresso real de seus clientes, em vez de apenas supor que tudo está indo bem ou culpar o cliente pela falta de progresso. A humildade também pode dar aos terapeutas a disposição para se auto-corrigir quando necessário e motivá-los a se envolver em 'uma prática deliberada' (que visa melhorar suas habilidades com base no monitoramento cuidadoso do desempenho e no recebimento de feedback). Referindo-se a suas próprias descobertas, bem como a pesquisas sobre 'terapeutas mestres' (terapeutas considerados especialmente competentes por seus pares), Michael Helge Rønnestad, da Universidade de Oslo, e Thomas Skovholt, da Universidade de Minnesota - ambos especialistas no desenvolvimento de psicoterapeutas - sintetizaram assim em seu livro The Developing Practitioner: Growth and Stagnation of Therapists and Counsellors (2013): 'A humildade parece ser uma característica dos experts [em psicoterapia] em muitos estudos'.
"O problema do mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre seguros de si e as pessoas mais sábias cheias de dúvidas." Esse fenômeno - observado na década de 1930 pelo filósofo inglês Bertrand Russell - tem um nome técnico, o efeito Dunning-Krüger. Este efeito diz respeito à tendência de as pessoas com os piores desempenhos superestimarem a própria performance, enquanto aquelas com os melhores desempenhos subestimarem a si mesmas. O paradoxo de Dunning-Krüger foi encontrado em ambientes acadêmicos e empresariais, mas e no contexto da psicoterapia? É melhor ter um terapeuta confiante ou alguém com inseguranças?
Infelizmente, a auto-avaliação dos psicoterapeutas também é tendenciosa. Quando solicitados a classificar seus próprios desempenhos na psicoterapia, os terapeutas tendem a se superestimar. Além disso, como apontou um estudo, o excesso de confiança era mais típico daqueles terapeutas classificados como menos competentes por um avaliador independente. Em contraste, outros estudos descobriram que são os terapeutas que se avaliam mais negativamente que geralmente são considerados os mais competentes por especialistas independentes.
Inspirado por essas descobertas, um estudo alemão recente comparou as estimativas dos terapeutas sobre o progresso de seus clientes com a melhora real destes com a terapia. Os resultados fornecem a evidência mais convincente até o momento da humildade como uma virtude terapêutica. Quanto mais modesta ou conservadora a estimativa de um terapeuta sobre o progresso de seus clientes, mais os sintomas destes diminuíam e a qualidade de vida aumentava.
Tais achados ajudam a explicar o resultado de uma série de estudos de psicoterapia naturalista que meus colegas e eu conduzimos recentemente, nos quais avaliamos a contribuição de inúmeras variáveis do terapeuta para os resultados da terapia. Uma descoberta em particular se destacou: os terapeutas com pontuações mais altas em insegurança profissional (por exemplo, aqueles que não tinham confiança de que poderiam ter efeitos benéficos sobre os clientes e se sentiam inseguros sobre a melhor maneira de lidar eficazmente com determinada pessoa) tendem a receber classificações mais positivas de seus clientes em termos da aliança terapêutica (isto é, da qualidade do relacionamento entre terapeuta e cliente) e dos resultados da terapia. Essa descoberta nos surpreendeu a princípio. Acreditávamos que menos - e não mais - insegurança seria algo benéfico para o cliente. No entanto, o resultado faz todo sentido à luz das pesquisas anteriores que mostraram os benefícios da humildade do terapeuta.
A disposição para ouvir o outro provavelmente é central para explicar por que a humildade é benéfica. Uma atitude humilde também pode ser necessária para que os terapeutas estejam abertos ao feedback sobre o progresso real de seus clientes, em vez de apenas supor que tudo está indo bem ou culpar o cliente pela falta de progresso. A humildade também pode dar aos terapeutas a disposição para se auto-corrigir quando necessário e motivá-los a se envolver em 'uma prática deliberada' (que visa melhorar suas habilidades com base no monitoramento cuidadoso do desempenho e no recebimento de feedback). Referindo-se a suas próprias descobertas, bem como a pesquisas sobre 'terapeutas mestres' (terapeutas considerados especialmente competentes por seus pares), Michael Helge Rønnestad, da Universidade de Oslo, e Thomas Skovholt, da Universidade de Minnesota - ambos especialistas no desenvolvimento de psicoterapeutas - sintetizaram assim em seu livro The Developing Practitioner: Growth and Stagnation of Therapists and Counsellors (2013): 'A humildade parece ser uma característica dos experts [em psicoterapia] em muitos estudos'.
Outras evidências da importância da humildade para a psicoterapia vem de pesquisas sobre a "humildade cultural" dos terapeutas. Adotar uma abordagem culturalmente humilde significa buscar uma postura curiosa, sem julgamentos e sensível ao que a identidade cultural dos clientes significa para eles (no caso de etnia, religião, fé, orientação sexual ou identidade de gênero) e inseri-la no trabalho terapêutico. Há um crescente corpo de evidências ligando a humildade cultural à eficácia terapêutica, com clientes que veem seus terapeutas como mais humildes culturalmente tendendo a alcançar melhores resultados.
 A humildade é um componente paradoxal da expertise? Na verdade, não: um expert (ou especialista) é, antes de tudo, alguém que continua aprendendo - e isso parece se aplicar tanto aos psicoterapeutas quanto a outras profissões. Como Joshua Hook, psicólogo da Universidade do Norte do Texas e co-autor de Cultural Humility (2017), e seus colegas afirmaram recentemente: “Por seu próprio valor, a humildade pode parecer o oposto da experiência, mas argumentamos que a humildade é fundamental [para se alcançar a excelência clínica]". Tomadas em conjunto, as crescentes evidências dos benefícios da humildade do terapeuta apoiam a observação do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que escreveu em 1859 que "toda ajuda verdadeira começa com a humildade".
A humildade é um componente paradoxal da expertise? Na verdade, não: um expert (ou especialista) é, antes de tudo, alguém que continua aprendendo - e isso parece se aplicar tanto aos psicoterapeutas quanto a outras profissões. Como Joshua Hook, psicólogo da Universidade do Norte do Texas e co-autor de Cultural Humility (2017), e seus colegas afirmaram recentemente: “Por seu próprio valor, a humildade pode parecer o oposto da experiência, mas argumentamos que a humildade é fundamental [para se alcançar a excelência clínica]". Tomadas em conjunto, as crescentes evidências dos benefícios da humildade do terapeuta apoiam a observação do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que escreveu em 1859 que "toda ajuda verdadeira começa com a humildade".No entanto, a humildade do terapeuta por si só não é suficiente para que a terapia seja eficaz. Em nosso último estudo, avaliamos o quanto os terapeutas tratam a si mesmos de maneira gentil e com perdão em suas vidas pessoais (ou seja, relatam mais 'auto-aceitação' [self-affiliation]) e em suas percepções de si mesmos em termos profissionais. Previmos que o nível de auto-aceitação pessoal dos terapeutas aumentaria o efeito que a insegurança profissional tem sobre a mudança terapêutica. Nossa hipótese foi apoiada: os terapeutas que relataram mais inseguranças em seu trabalho aliviam mais o sofrimento do cliente se eles também relatam ser gentis consigo mesmos fora do trabalho (em contraste, os terapeutas que obtiveram pontuação baixa em insegurança e elevada em auto-aceitação contribuíram menos para a mudança).
Interpretamos esse achado de forma a sugerir que uma postura autocrítica benigna é benéfica para o terapeuta, mas que o autocuidado e o autoperdão sem a autocrítica reflexiva não são. A combinação de auto-aceitação e dúvida profissional parece abrir caminho para uma atitude aberta e auto-reflexiva que permite aos psicoterapeutas respeitar a complexidade de seu trabalho e, quando necessário, corrigir o curso terapêutico para ajudar os clientes de maneira mais eficaz.
O que tudo isso significa? Em uma época em que as pessoas tendem a pensar que o valor está baseado no quão confiantes elas são e que elas devem "vender" a si próprias em todas as situações, a descoberta de que a humildade do terapeuta é uma virtude subestimada e um ingrediente paradoxal da experiência pode ser um alívio. Certamente eu descobri que os achados sobre a importância da humildade tem ressonância com os terapeutas, muitos dos quais demonstram ceticismo com relação aos profissionais excessivamente confiantes no campo psicoterapêutico e em outros campos. Agora precisamos incorporar a mensagem de que a humildade é uma qualidade importante do terapeuta no treinamento e na supervisão. Parte disso envolverá uma mudança cultural, para que terapeutas qualificados possam agir como modelos de humildade para clientes e estudantes, sem medo de perder o respeito ou a autoridade.
Assinar:
Postagens (Atom)