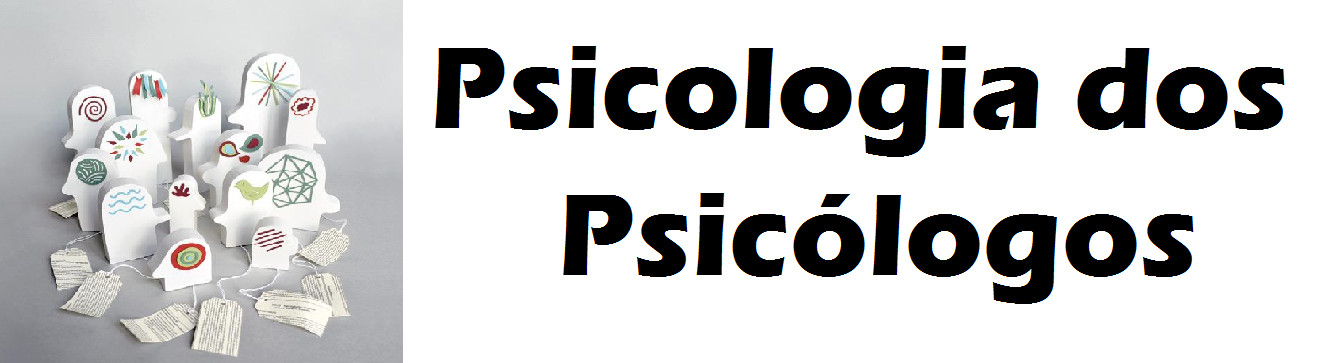Não, este blog não é de turismo, mas de Psicologia. Na verdade, trata-se de um blog de um psicólogo. E este que vos fala fará uma viagem no final do ano para a Europa. Pretendo, em 15 dias, conhecer algumas cidades de Portugal e Espanha. É um sonho que alimento já há algum tempo e, por diversos motivos, não pude concretizar até este ano. E foi com o objetivo de aproveitar a viagem da melhor maneira possível que comprei o livro "A arte de viajar", do filósofo inglês Alain de Botton. E antes mesmo de finalizar a leitura, ele já se encontrava na lista de livros da minha vida. O livro é sensacional! Recomendo a todos que se interessam por conhecer lugares - seja a Europa ou o próprio quarto. E além de ótimas reflexões e dicas para aproveitar as viagens, ele ainda trata de temas caros à Psicologia. Isto só comprova aquilo que disse o filósofo Hilton Japiassu, no livro que deu nome a este blog: "A psicologia é algo extremamente sério para ficar entregue apenas nas mãos dos psicólogos". Concordo com ele. E digo mais: muitas e muitas vezes encontramos importantes reflexões sobre temas "psicológicos" em obras de não-psicólogos. Especialmente a filosofia, mãe da Psicologia, tem muito a contribuir com os "nossos" temas - se bem que, na verdade, os temas são "deles", nós que os roubamos.
Já tinha lido do filósofo pop o ótimo "Religião para Ateus" e gosto muito da forma como ele escreve e dos temas que trata. Admiro também sua proposta de uma filosofia da vida cotidiana, oposta de certa forma, à hermética filosofia acadêmica. Para De Botton, a filosofia pode e deve ser aplicada à vida. Alguns chamam suas obras, pejorativamente, de auto-ajuda. Talvez seja, mas não no sentido tradicional. De Botton não tem receita pronta pra nada, mas propõe reflexões sobre grandes questões do cotidiano, como o amor (tema explorado em seu primeiro livro "Ensaios de amor"), o sexo ("Como pensar mais em sexo", recém-lançado), o trabalho ("Prazeres e desprazeres do trabalho"), a religião ("Religião para ateus"), a arquitetura ("Arquitetura da felicidade") e, claro, viagens (tema explorado por ele também no livro "Uma semana no aeroporto", que estou lendo agora). Seu livro mais famoso, "Como Proust pode mudar sua vida" congregou diversos desses temas, explorados a partir da obra do famoso (embora pouco lido) escritor francês. Questionado se o que faz é auto-ajuda, De Botton respondeu (veja aqui): "Eu quero criar uma nova autoajuda. Não quero criar soluções fáceis. Não vou te ajudar, porque muitas coisas não tem solução. Quero repartir coisas". Boa resposta!

"Arte de viajar" está dividido em cinco partes (Partida, Motivações, Paisagem, Arte e Retorno) e oito capítulos, cada qual com um destino e um guia (por exemplo: Amsterdã/Flaubert), ou seja para cada tema, ele utiliza como pontapé para suas reflexões um lugar pelo qual viajou e a vida e obra de outros escritores e pintores, alguns conhecidos outros não. O primeiro capítulo, "Da expectativa" (disponível
aqui) é um dos mais interessantes de todo o livro, na minha opinião. Neste capítulo, De Botton pretende refletir sobre a diferença entre nossas expectativas com relação à determinada viagem e o que de fato encontramos quando chegamos lá. Para ilustrar esta problemática, ele traz o caso do Duque des Esseintes, personagem do livro Às avessas, de J-k Huysmans. Segundo De Botton, Des Esseintes adorava os livros de Dickens e, impressionado com as descrições de Londres feitas por este autor, resolveu viajar até a Inglaterra. Decepcionou-se tremendamente, retornando frustrado à sua cidade natal, disposto à nunca mais viajar. Afirma Des Esseintes:
"Qual a necessidade de se locomover quando uma pessoa pode viajar tão maravilhosamente sentada em uma cadeira? Já não estava em Londres, com seus cheiros, seus climas, seus cidadãos, sua comida e até seus talheres dispostos ao redor dele? O que poderia encontrar lá senão novas decepções? Eu devia estar sofrendo de alguma aberração mental ao rejeitar as visões de minha obediente imaginação e pensar, como qualquer velho tolo, que seria interessante e necessário viajar ao exterior"
Esta história poderia demonstrar o quanto a realidade é sempre pior do que nossa expectativa. No entanto, para De Botton, são âmbitos simplesmente diferentes. Isto porque nossas expectativas funcionam de uma forma simplificadora. Imaginamos apenas fragmentos, nunca o todo. Desta forma, idealizamos uma bela praia deserta com um coqueiro, mas dificilmente imaginamos o caminho até esta praia. Para chegarmos a ela - que dificilmente será tão perfeita como na foto, assim como um hamburguer do Mcdonalds -, precisamos primeiro passar horas dentro de um avião ou de um ônibus, nos instalarmos em um hotel, lidarmos com o calor ou frio do lugar, etc. E quando de fato chegamos ao local almejado, temos de lidar ainda com nossas ansiedades e angústias.

Em uma passagem genial, De Botton descreve o belo cenário da Ilha de Barbados, que escolheu para passar as férias com a esposa por representar o exato oposto da chuvosa e cinza Londres, cidade em que mora. De Botton descreve detalhadamente a praia perfeita em que esteve, com suas árvores e pássaros, e acrescenta: "Esta descrição reflete apenas de forma imperfeita o que aconteceu comigo naquela manhã, pois, na verdade, minha atenção estava mito mais dispersa e confusa do que sugerem os parágrafos anteriores. Posso ter notado alguns pássaros cortando o ar em sua excitação matinal, mas minha consciência de sua presença foi comprometida por outros fatores, despropositados e sem relação entre si, como uma dor de garganta que desenvolvi durante o voo, a preocupação de não ter informado a um colega que estaria ausente, uma pressão entre as têmporas e a necessidade cada vez mais urgente de uma ida ao banheiro". E completa, com uma afirmação curiosa: "Um fato decisivo, mas até então ignorado, surgia pela primeira vez: inadivertidamente, eu me levara comigo para a ilha". Ou seja, junto com suas malas, ele tinha levado para este paraíso na terra, esta "criatura complexa", com todas suas particularidades.
Antes de viajar, olhando algumas fotos da ilha, ele podia ignorar este fato, isto é, ignorar-se. No entanto, durante sua estadia em Barbados, seu corpo e sua mente "se revelariam cúmplices temperamentais na missão de apreciar o meu destino turístico. O corpo encontrava dificuldade para dormir e se queixava do calor, dos mosquitos e dos problemas para digerir a comida do hotel. A mente mostrava-se apegada à ansiedade, ao tédio, a uma tristeza descontrolada e ao alarme financeiro". Segundo ele, "Parece que, ao contrário da satisfação contínua e duradoura que esperamos, a felicidade com e em determinado lugar deve ser um fenômeno breve e, pelo menos à mente consciente, aparentemente fortuito: um intervalo em que conseguimos ficar receptivos ao mundo ao nosso redor, em que pensamentos positivos sobre passado e futuro se solidificam e as ansiedades são amainadas. Mas essa condição raras vezes se prolonga por mais de dez minutos"
Não é assim que funciona? Pelo menos comigo sempre foi assim. Mas algo alentador de pensar é que, da mesma forma que nossa imaginação, nossa memória é altamente simplificadora, retendo, com o tempo, apenas fragmentos de toda a experiência da viagem. Momentos de tristeza, medo e ansiedade, felizmente, costumam ser esquecidos, da mesma forma que grande parte dos detalhes da viagem. Este processo funciona de forma similar com os livros que lemos no decorrer da nossa vida. No interessante (e irônico) livro "Como falar dos livros que não lemos", o escritor Pierre Bayard afirma, na mesma direção de De Botton, que "a leitura não é somente conhecimento de um texto ou aquisição de um saber. Ela está também, e a partir do momento em que se inicia, engajada em um irreprimível movimento de esquecimento. No momento em que estou lendo, eu já começo a esquecer o que li, e este processo é inelutável, prolongando-se até o momento em que tudo se passa como se eu não tivesse lido o livro".

Da mesma forma, ao iniciarmos uma viagem, já começamos a esquecê-la. Triste, mas é assim. À exceção de pessoas com memórias extraordinárias, nos lembramos pouco e cada vez menos das experiências pelas quais passamos. Isto tem um lado bom: se fossemos lembrar em detalhes de todas as nossas dores e ansiedades, não conseguiríamos seguir nossas vidas, como que assombrados por "fantasmas" do passado. Ao mesmo tempo, este processo nos faz esquecer detalhes e, muitas vezes, períodos inteiros de nossas vidas. E mesmo aquelas parcas memórias que "permanecem" não representam a "realidade" do que foi vivido. Como aponta Bayard sobre os livros: "Não guardamos em nossa memória, livros homogêneos, mas fragmentos arrancados de leituras parciais, frequentemente misturados uns com os outros, e ainda por cima remanejados por nossas fantasias pessoais". Segundo ele, nossa memória "conserva não mais do que alguns elementos esparsos que sobrenadam, como ilhotas, dentro de um oceano de esquecimento". Com as viagens, o mesmo processo parece agir. Um exercício interessante é tentar se lembrar de alguma viagem que você fez na infância e depois confrontar suas lembranças com as de outras pessoas que estiveram presentes na mesma viagem. Provavelmente, as lembranças serão tão diversas que darão a impressão de terem sido viagens diferentes.
De qualquer forma, são estas memórias fragmentadas, parciais e fantasiosas que formam o que somos. Esta é a lição daquele filme fabuloso "Brilho eterno de uma mente sem lembranças". E mesmo que esqueçamos grande parte de nossas experiências, algo delas permanece no que somos. Um professor meu disse certa vez que o que chamamos de cultura ou conhecimento é tudo aquilo que permanece depois que a gente esquece onde aprendeu (não deve ter sido exatamente isso que ele disse, mas foi o que minha memória reteve). Concordo com ele. Tudo o que vivemos, mesmo aquilo que hoje esquecemos - ou achamos que esquecemos -, contribui com pequenos fragmentos para o que nos tornamos. Baylard chama de "livro interior" este conjunto de fragmentos do que lemos ao longo da nossa vida e que compõem uma parte do que somos. Talvez possamos falar, parafraseando Bayard, em uma "viagem interior", designando o conjunto de lembranças, sentimentos e pensamentos que permanecem, mesmo fragmentados em nossa memória, em função das viagens, reais ou imaginárias, que fizemos. Tendo em vista que a linha que separa real de imaginário é um tanto quanto imprecisa, não importa se a viagem é interior ou exterior. O que importa é viajar.

.jpg)