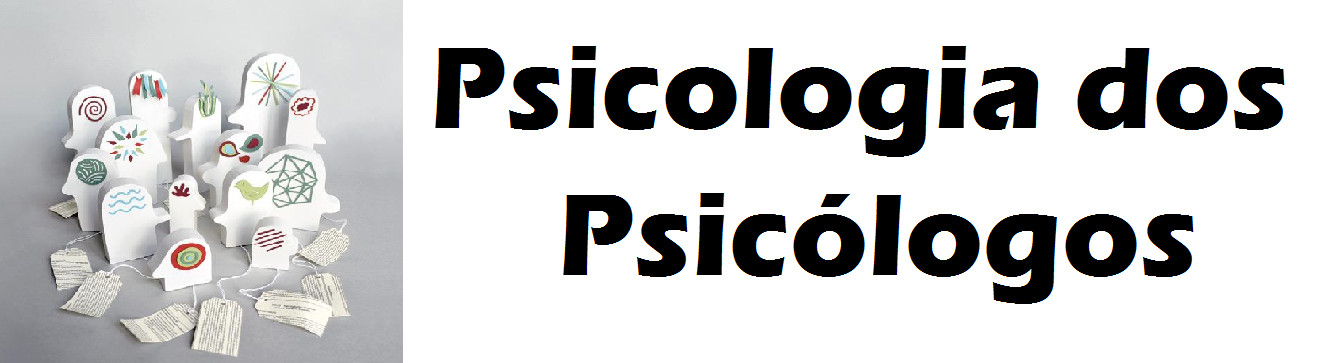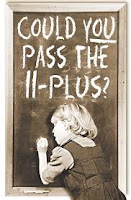No dia 21 de fevereiro, o site AEON publicou um texto magnífico, denominado Intelligence: a history, escrito pelo filósofo Steven Cave, que também é diretor do Centro Leverhulme para o Futuro da Inteligência, da Universidade de Cambridge. Segue a tradução que fiz deste interessante artigo.
No dia 21 de fevereiro, o site AEON publicou um texto magnífico, denominado Intelligence: a history, escrito pelo filósofo Steven Cave, que também é diretor do Centro Leverhulme para o Futuro da Inteligência, da Universidade de Cambridge. Segue a tradução que fiz deste interessante artigo. Enquanto eu crescia na Inglaterra na segunda metade do século 20, o conceito de inteligência emergiu com força total. Ele foi cobiçado, debatido e - o mais importante de tudo - medido. Quando eu tinha 11 anos, dezenas de milhares de nós em todo o país foram conduzidos a salas de aula repletas de mesas para que respondêssemos a um teste de QI conhecido como 11-Plus. Os resultados daquelas poucas e curtas horas determinariam quem iria para a escola de gramática para ser preparado para a universidade e para as profissões; quem seria encaminhado à escola técnica e daí para o trabalho qualificado; e quem iria para a escola secundária para ser introduzido a conhecimentos básicos e em seguida conduzido para uma vida de trabalhos manuais de baixo status.
A ideia de que a inteligência poderia ser quantificada, como a pressão sanguínea ou o tamanho do sapato, tinha apenas um século de idade quando eu fiz o teste que decidiria meu lugar no mundo. Mas a noção de que a inteligência poderia determinar a posição de vida de alguém é muito mais antiga. Ela funciona como uma espécie de fio que transpassa todo o pensamento ocidental, deste a filosofia de Platão até as políticas da primeira-ministra britânica Theresa May. Dizer que alguém é ou não é inteligente nunca foi apenas um comentário sobre suas faculdades mentais. É também sempre um julgamento sobre o que as pessoas estão autorizadas a fazer. A inteligência, em outras palavras, é política.
Algumas vezes, essa forma de classificação é sensata: queremos médicos, engenheiros e governantes que não sejam estúpidos. Mas isto tem um lado obscuro. Além de determinar o que uma pessoa pode fazer, sua inteligência - ou suposta falta dela - tem sido usada para decidir o que os outros podem fazer com ela. Ao longo da história ocidental, aqueles considerados menos inteligentes foram, como consequência desse julgamento, colonizados, escravizados, esterilizados e assassinados (e até mesmo comidos, se incluirmos os animais não-humanos).
É uma história antiga, na verdade muito antiga. Mas o problema teve uma interessante reviravolta no século XXI com a ascensão da Inteligência Artificial (AI). Nos últimos anos, o progresso que está sendo feito na pesquisa de AI aumentou significativamente, e muitos especialistas acreditam que esses avanços em breve levarão a outros mais. Os analistas, por sua vez, estão aterrorizados e animados, polvilhando o Twitter com referências ao filme Exterminador do futuro. Para entender por que nos preocupamos e o que tememos, devemos entender a inteligência como um conceito político - e, em particular, a sua longa história como uma justificativa para a dominação.
O termo "inteligência" nunca foi muito popular entre os filósofos de língua inglesa. Nem possui uma tradução direta para o alemão ou para o grego antigo, duas das outras grandes línguas da tradição filosófica ocidental. Mas isso não significa que os filósofos não estavam interessados nesta questão. Na verdade, eles estavam obcecados por ela, ou mais precisamente por uma parte dela: a razão ou a racionalidade. O termo "inteligência" conseguiu eclipsar seu parente mais distante no discurso popular e político apenas com o surgimento da disciplina relativamente nova da psicologia, que reivindicava inteligência para si mesma. Embora hoje muitos estudiosos defendam uma compreensão muito mais ampla da inteligência, a razão permanece sendo uma parte essencial dela. Então, quando eu falo sobre o papel que a inteligência teve historicamente, eu preciso incluir este antepassado.
 A história da inteligência começa com Platão. Em todos os seus escritos, ele atribui um valor muito elevado ao pensamento, declarando (pela boca de Sócrates) que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Platão emergiu de um mundo mergulhado no mito e no misticismo para reivindicar algo novo: que a verdade sobre a realidade poderia ser estabelecida através da razão, ou como poderíamos dizer hoje, através da aplicação da inteligência. Isso o levou a concluir, na República, que o governante ideal é "o rei filósofo", na medida em que somente um filósofo poderia realizar este trabalho adequadamente. E assim ele lançou a ideia de que o mais inteligente deveria governar o resto - uma meritocracia intelectual.
A história da inteligência começa com Platão. Em todos os seus escritos, ele atribui um valor muito elevado ao pensamento, declarando (pela boca de Sócrates) que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Platão emergiu de um mundo mergulhado no mito e no misticismo para reivindicar algo novo: que a verdade sobre a realidade poderia ser estabelecida através da razão, ou como poderíamos dizer hoje, através da aplicação da inteligência. Isso o levou a concluir, na República, que o governante ideal é "o rei filósofo", na medida em que somente um filósofo poderia realizar este trabalho adequadamente. E assim ele lançou a ideia de que o mais inteligente deveria governar o resto - uma meritocracia intelectual.Essa ideia era revolucionária para a época. Atenas já havia experimentado a democracia, o governo do povo - mas, para ser considerado parte do povo, você precisava ser um cidadão do sexo masculino, não necessariamente inteligente. Em outros lugares, as classes governantes eram constituídas por elites herdadas (aristocracia), ou por aqueles que acreditavam ter recebido instrução divina (teocracia), ou simplesmente pelos mais fortes (tirania).
A nova ideia de Platão caiu nos ouvidos ansiosos dos intelectuais, incluindo nos de seu aluno Aristóteles. Aristóteles sempre foi o tipo mais prático e taxonômico de pensador. Ele tomou a noção do primado da razão e usou-a para estabelecer o que acreditava ser uma hierarquia social natural. Em seu livro A política, ele explica: "Que alguns devam governar e outros serem governados é uma coisa não só necessária, mas conveniente; desde a hora do nascimento, alguns são marcados para a sujeição, outros para a liderança". O que marca o governante é a posse de um "elemento racional". Os homens educados têm muito disto e, portanto, devem governar naturalmente sobre as mulheres - e também sobre aqueles homens "cujo trabalho é usar seu corpo" e que, portanto, "são escravos por natureza". Mais abaixo ainda na escada estão os animais não-humanos, que são tão estúpidos ao ponto de "ficarem melhores quando são governados pelo homem".
Assim, no alvorecer da filosofia ocidental, nós temos a inteligência identificada com o homem europeu, educado, masculino. Este se torna um argumento para seu direito de dominar as mulheres, as classes mais baixas, os povos não-civilizados e os animais não-humanos. Enquanto Platão argumentava pela supremacia da razão e a colocava dentro de uma utopia bastante desagradável, apenas uma geração depois, Aristóteles apresenta a regra do homem pensante como óbvia e natural.
Não é necessário dizer que, mais de 2000 anos mais tarde, o trem de pensamento que esses homens puseram em movimento ainda não foi descarrilado. O filósofo australiano e conservacionista Val Plumwood argumentou que os gigantes da filosofia grega criaram uma série de dualismos que continuam a formar o nosso pensamento. Categorias opostas, como inteligente/ estúpido, racional/ emocional e mente/ corpo estão ligadas, implícita ou explicitamente, a outros, como macho/ fêmea, civilizado/ primitivo e humano/ animal. Esses dualismos não são neutros em termos de valores, mas enquadram-se em um dualismo mais amplo, como Aristóteles deixa claro: o do dominante/ subordinado ou do mestre/ escravo. Juntos, eles fazem as relações de dominação, como o patriarcado ou a escravidão, parecerem fazer parte da ordem natural das coisas.
O início da filosofia ocidental, em sua aparência moderna, é frequentemente atribuída ao mais famoso dualista, René Descartes. Ao contrário de Aristóteles, ele nem sequer admitiu um continuum de diminuição da inteligência entre o homem e os outros animais. A cognição, segundo Descartes, é exclusiva da humanidade. Ele estava reproduzindo mais de um milênio de teologia cristã, que fazia da inteligência uma propriedade da alma, uma centelha do divino reservada apenas para aqueles que tinham a sorte de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Descartes tornou a natureza literalmente sem mente [no original: mindless] e desprovida de valor intrínseco - o que legitimava a opressão livre de culpa de outras espécies.
A ideia de que a inteligência define a humanidade persistiu no Iluminismo. Foi entusiasticamente abraçada por Immanuel Kant, provavelmente o mais influente filósofo moral desde os antigos. Para Kant, apenas as criaturas de raciocínio tinham uma posição moral. Os seres racionais deveriam ser chamados de "pessoas" e eram "fins em si mesmos". Os seres que não eram racionais, por outro lado, tinham "apenas um valor relativo como meio e, portanto, são chamados de coisas". Poderíamos fazer com eles o que quiséssemos.
De acordo com Kant, o ser racional - hoje diríamos "o ser inteligente" - tem valor infinito ou dignidade, enquanto o irracional ou ininteligente não tem nenhum. Seus argumentos são mais sofisticados, mas essencialmente ele chega à mesma conclusão que Aristóteles: há mestres naturais e escravos naturais, e a inteligência é o que os distingue.
A mesma lógica foi aplicada às mulheres, que eram consideradas demasiadamente volúveis e sentimentais para apreciar os privilégios concedidos ao "homem racional". Na Inglaterra do século XIX, as mulheres estavam menos protegidas pela lei do que os animais domésticos, como demonstrou a historiadora Joanna Bourke, da Birkbeck University of London. Talvez não seja surpreendente constatar, então, que por muitas décadas o advento dos testes de inteligência formais tendeu a exacerbar ao invés de remediar a opressão contra as mulheres.
Sir Francis Galton é geralmente considerado criador da psicometria, a "ciência" que busca medir da mente. Ele foi inspirado pela obra Origem das espécies (1859) escrita por seu primo Charles Darwin. Esta obra levou Galton a acreditar que a habilidade intelectual era hereditária e poderia ser melhorada através da reprodução seletiva. Ele decidiu encontrar uma maneira de identificar cientificamente os membros mais capazes da sociedade e encorajá-los a se reproduzir - em grande quantidade e uns com os outros. Os menos intelectualmente capazes deveriam ser desencorajados a se reproduzir, ou de fato impedidos, em benefício da espécie. Assim, a eugenia e o teste de inteligência nasceram juntos. Nas décadas seguintes, um grande número de mulheres em toda a Europa e na América foi esterilizada à força após obter pontuações baixas em tais testes - 20 mil somente na Califórnia.
As escalas de inteligência foram usadas para justificar alguns dos mais terríveis atos de barbárie da história. Mas a regra da razão sempre teve seus críticos. De David Hume a Friedrich Nietzsche, passando por Sigmund Freud até o pós-modernismo, existem muitas tradições filosóficas que desafiam a noção de que somos tão inteligentes como gostaríamos de acreditar e de que a inteligência é a virtude mais elevada.
A meritocracia da inteligência sempre foi apenas uma explicação para o valor social - ainda que uma explicação altamente influente. A entrada em determinadas escolas e profissões, como o Serviço Civil do Reino Unido, baseia-se em testes de inteligência, mas outras esferas da sociedade enfatizam qualidades diferentes, tais como a criatividade ou o espírito empreendedor. E embora possamos esperar que nossos funcionários públicos sejam inteligentes, nem sempre optamos por eleger os políticos mais inteligentes. (Ainda assim, é revelador que mesmo um político populista como Donald Trump sentiu a necessidade de afirmar, sobre sua administração, que "temos de longe o maior QI jamais reunido num gabinete)
Em vez de desafiar a hierarquia da inteligência como tal, muitos críticos se concentraram em atacar os sistemas que permitem que as elites brancas e masculinas cheguem ao topo. O exame 11-Plus, a que eu fui submetido, é um interessante e profundamente equivocado exemplo de tal sistema. Ele foi projetado para identificar indivíduos jovens e brilhantes de todas as classes e credos. Mas, na realidade, aqueles que são aprovados no exame procedem desproporcionalmente das classes médias brancas em melhor situação financeira, cujos membros se encontram, assim, legitimados em suas posições e vantagens.
Então, quando refletimos sobre como o conceito de inteligência tem sido usado para justificar privilégios e dominações ao longo de mais de 2000 anos de história, há alguma surpresa que a perspectiva iminente de robôs super-inteligentes nos encha de medo?
De 2001: Uma Odisséia no Espaço até os filmes da série Exterminador do Futuro, os escritores têm fantasiado sobre máquinas se rebelando contra nós. Agora podemos ver o porque. Se estamos acostumados a acreditar que os melhores lugares da sociedade devem ser ocupados pelos mais inteligentes, então, naturalmente, devemos esperar ser subjugados por robôs megainteligentes e colocados no fim da fila [no original: bottom of the heap, expressão de difícil tradução]. Se tivermos absorvido a ideia de que os mais inteligentes podem colonizar os menos inteligentes, então é natural que tenhamos medo de sermos escravizados por nossas criações super-inteligentes. Se justificamos nossas próprias posições de poder e prosperidade em virtude de nosso intelecto, é compreensível que vejamos a IA como uma ameaça existencial.
Essa narrativa de privilégio pode explicar porque, como observou a estudiosa e tecnóloga Kate Crawford, de Nova York, o medo da AI parece predominante entre os homens brancos ocidentais. Outros grupos têm sofrido uma longa história de dominação por autoproclamados superiores, e ainda estão lutando contra os verdadeiros opressores. Homens brancos, por outro lado, estão acostumados a estar no topo da hierarquia. Eles têm mais a perder se novas entidades aparecem para superá-los justamente nas áreas que foram usadas para justificar a superioridade masculina.
Eu não quero sugerir com isto que toda nossa ansiedade relacionada à Inteligência Artificial seja infundada. Existem riscos reais associados com o uso de AI avançado (assim como imensos benefícios potenciais). Mas ser oprimido pelos robôs da maneira como, digamos, os povos indígenas da Austrália foram oprimidos por colonos europeus não é o número um na lista.
Seria melhor nos preocuparmos com o que os seres humanos podem fazer com a IA, ao invés do que ela poderia fazer por si mesma. Nós humanos somos muito mais propensos a utilizar sistemas inteligentes uns contra os outros, ou a nos tornarmos excessivamente dependentes deles. Como na fábula do aprendiz de feiticeiro, se as AIs nos causam danos, é mais provável que seja porque lhes damos objetivos bem intencionados mas confusos - e não porque eles desejam nos conquistar. A estupidez natural, mais do que a inteligência artificial, continua sendo o maior risco.
É interessante especular sobre como veríamos a ascensão da AI se tivéssemos uma visão diferente da inteligência. Platão acreditava que os filósofos precisariam ser convencidos a se tornarem reis, pois prefeririam naturalmente a contemplação ao domínio sobre os homens. Outras tradições, especialmente as orientais, veem a pessoa inteligente como alguém que despreza as armadilhas do poder como mera vaidade e que se afasta das trivialidades e atribuições dos afazeres cotidianos.
Imagine se tais visões forem difundidas: se todos pensarmos que as pessoas mais inteligentes não são aquelas que reivindicam o direito de governar, mas aquelas que foram meditar em lugares remotos para se libertar dos desejos mundanos; ou se o mais inteligente de todos for aquele que retornar para disseminar a paz e o esclarecimento. Ainda teríamos medo de robôs mais inteligentes que nós?