Saiu esta semana em diversos jornais e sites (veja, por exemplo, aqui) a notícia de que o neurocirurgião italiano Sergio Canavero programou a primeira cirurgia de transplante de cabeça para o ano de 2017. Neste momento ele prevê que será possível realizar tal cirurgia com sucesso. Até lá a equipe pretende planejar detalhadamente o complexo procedimento - que estima-se que envolverá 150 médicos e enfermeiros, demorará 36 horas e custará mais de 11 milhões de dólares. O escolhido para tal feito foi o russo Valery Spiridonov, que se voluntariou para o transplante. Spiridonov sofre de uma doença muscular degenerativa chamada Síndrome Werdnig-Hoffman e, com, o transplante de sua cabeça para o corpo de uma pessoa que teve morte cerebral, estima-se que seu tempo de vida seria ampliado em 30 anos. Espera-se que após esta cirurgia pioneira outras pessoas com problemas corporais semelhantes ao de Spiridonov poderão ser beneficiadas com tal procedimento.
Mas para além de uma cirurgia extremamente complexa do ponto de vista técnico, o transplante de cabeça traz em seu escopo, também, uma série de questões filosóficas igualmente complexas. Se o nosso eu (ou seja, a soma de nossas memórias, pensamentos e sentimentos) está localizado exclusivamente no cérebro, como defendem muitos neurocientistas contemporâneos, então um transplante de cabeça (ou de cérebro) seria, na verdade, um transplante de corpo. Se o "eu" está no cérebro, a cabeça transplantada em um novo corpo levaria junto a personalidade de seu dono (ou seja, do dono da cabeça). Caso sejam superadas as dificuldades técnicas de "fundir" os sistemas nervosos da cabeça e do novo corpo, de "despertar" a cabeça e de não haver rejeição imunológica, aí poderemos saber se esta teoria está correta ou não. Se a cabeça neste novo corpo mantiver a personalidade do "dono" do cérebro original, isto significaria que o cérebro é realmente o lócus do "eu". Mas a questão é saber se haverão também perdas. Isto significa avaliar o quanto do nosso "eu" depende do (ou está relacionado ao) nosso corpo. Adeptos da chamada teoria da cognição incorporada defendem que a nossa cognição, e a nossa mente de uma forma geral, não apenas dependem do corpo mas, de certa forma, são nosso corpo. Mente e corpo não seriam entidades distintas mas uma unidade. Isto significaria que o nosso corpo é fundamental para a constituição do que somos - e se, por acaso, nosso corpo se alterasse, já não seríamos os mesmos (se é que, de fato, há uma unidade no que somos ao longo de nossas vidas). Assim, a ideia de um transplante de cabeça - e mais radicalmente, de um transplante de cérebro - não significaria, de forma alguma, um transplante de alma ou de "eu". Com outro corpo, seríamos outros. Agora cabe-nos aguardar os próximos capítulos desta jornada rumo a um transplante de cabeça para avaliarmos como, de fato, será essa nova pessoa resultado da fusão de dois corpos.
Update 15/09/15: Veja abaixo uma reportagem do Domingo Espetacular sobre o tema.
A ideia de um transplante de cabeça é antiga e já foi tentada, com relativo sucesso, com animais. Não acredita? Então leia o sensacional livro "Curiosidade Mórbida: a ciência e a vida secreta dos cadáveres", escrito pela jornalista Mary Roach e lançado recentemente no Brasil. Neste livro, Mary resgata uma série de experimentos esdrúxulos realizados com animais (pobres animais!) por alguns cientistas e cirurgiões durante o século XX. Na década de 1950, por exemplo, o russo Vladimir Demikhov transplantou cabeças de filhotes de cachorros - na verdade conjuntos de cabeças, ombros, pulmões e patas dianteiras - nas costas de cães adultos (veja a foto). Na maioria dos experimentos, as "cabeças transplantadas" duraram pouco devido a reações imunológicas: em média, viveram de 2 a 6 dias, mas houve um caso que durou 29 dias. Em suas efêmeras existências, algumas cabeças-filhotes agiam como cães "normais", como é possível observar nestas notas publicadas por Demikhov em seu livro "Transplantes experimentais de órgãos vitais": "9h. A cabeça do doador bebeu água e leite com avidez e mexeu-se como se tentasse separar-se do corpo do receptor; 22h30. Quando o receptor foi posto para dormir, a cabeça transplantada mordeu o dedo de um membro da equipe e o fez sangrar; 26 de fevereiro 18h. A cabeça do doador mordeu a orelha do receptor, que ganiu e sacudiu a cabeça". Não é curioso isto? Na década seguinte, o neurocirurgião norte-americano Robert White realizou cirurgias semelhantes com cachorros e macacos (algumas de cérebro e não de cabeça) e chegou a resultados semelhantes: a cabeça ou o cérebro transplantados esboçavam alguma resposta mas, devido a reações imunológicas, eram rejeitados pelo corpo receptor. O problema permanece.
Mas para além de uma cirurgia extremamente complexa do ponto de vista técnico, o transplante de cabeça traz em seu escopo, também, uma série de questões filosóficas igualmente complexas. Se o nosso eu (ou seja, a soma de nossas memórias, pensamentos e sentimentos) está localizado exclusivamente no cérebro, como defendem muitos neurocientistas contemporâneos, então um transplante de cabeça (ou de cérebro) seria, na verdade, um transplante de corpo. Se o "eu" está no cérebro, a cabeça transplantada em um novo corpo levaria junto a personalidade de seu dono (ou seja, do dono da cabeça). Caso sejam superadas as dificuldades técnicas de "fundir" os sistemas nervosos da cabeça e do novo corpo, de "despertar" a cabeça e de não haver rejeição imunológica, aí poderemos saber se esta teoria está correta ou não. Se a cabeça neste novo corpo mantiver a personalidade do "dono" do cérebro original, isto significaria que o cérebro é realmente o lócus do "eu". Mas a questão é saber se haverão também perdas. Isto significa avaliar o quanto do nosso "eu" depende do (ou está relacionado ao) nosso corpo. Adeptos da chamada teoria da cognição incorporada defendem que a nossa cognição, e a nossa mente de uma forma geral, não apenas dependem do corpo mas, de certa forma, são nosso corpo. Mente e corpo não seriam entidades distintas mas uma unidade. Isto significaria que o nosso corpo é fundamental para a constituição do que somos - e se, por acaso, nosso corpo se alterasse, já não seríamos os mesmos (se é que, de fato, há uma unidade no que somos ao longo de nossas vidas). Assim, a ideia de um transplante de cabeça - e mais radicalmente, de um transplante de cérebro - não significaria, de forma alguma, um transplante de alma ou de "eu". Com outro corpo, seríamos outros. Agora cabe-nos aguardar os próximos capítulos desta jornada rumo a um transplante de cabeça para avaliarmos como, de fato, será essa nova pessoa resultado da fusão de dois corpos.
Update 15/09/15: Veja abaixo uma reportagem do Domingo Espetacular sobre o tema.







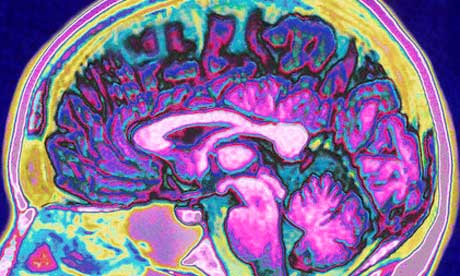










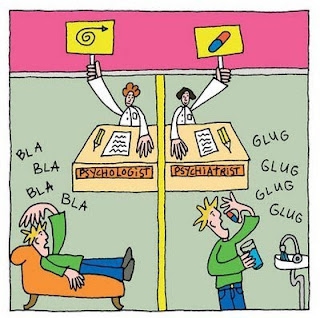
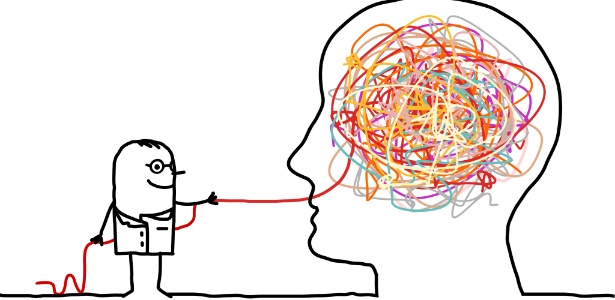
/https://skoob.s3.amazonaws.com/livros/14867/DESEMPREGO_DE_COLARINHOBRANCO_1391109805B.jpg)



























