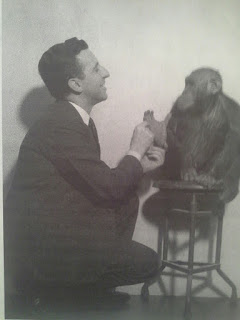A "indústria do coaching" está mais forte do que nunca. De acordo com uma reportagem da revista Exame além de movimentar, só nos Estados Unidos, mais de 2,3 bilhões de dólares por ano, o coaching tem atraído um número crescente de profissionais. Estima-se que este mercado conte, atualmente, com cerca de 53 mil profissionais em todo o mundo, 4 mil apenas na América Latina. No Brasil não se sabe ao certo o número de "coaches" inseridos no mercado, haja vista a multiplicação descontrolada de cursos de formação, mas acredita-se que tem crescido substancialmente nos últimos anos - e ainda que a quantidade de coaches esteja muito distante, por exemplo, do número de psicólogos (342 mil) e médicos (450 mil) que atuam no país, a atividade tem obtido uma visibilidade crescente, o que contribui tanto para o aumento da demanda pelos serviços de coaching quanto para a multiplicação de críticas e questionamentos. A novela da Rede Globo O outro lado do Paraíso, por exemplo, fez um merchandising descarado da atividade, bancado pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), e que acabou por tornar a prática ainda mais conhecida no país - mas também rendeu uma nota crítica do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e uma denúncia no Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar). Posteriormente o CFP publicou uma nota orientativa sobre a prática do coaching - afirmando, dentre outras coisas que, "qualquer profissional que não esteja inscrito no CRP, e que se utilizar de métodos e técnicas privativas do psicólogo durante sessões de coaching, ou que desenvolva, de alguma forma, atribuições restritas à Psicologia, estará incorrendo em exercício ilegal da profissão" - e um cidadão sergipano encaminhou à Câmara Federal uma ideia legislativa (absurda, na minha visão) que criminaliza a atividade de coaching - de acordo com ele, “se tornada lei, [a proposta] não permitirá o charlatanismo de muitos autointitulados formados até mesmo sem diploma válido. Não permitindo propagandas enganosas como 'reprogramação do DNA' e 'cura quântica', que desrespeitam o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas". Por outro lado, diversas instituições de coaching e os próprios coaches tem vindo a público defender a seriedade da prática e apontar para as diferenças entre o coaching e outras atividades de apoio e orientação. Ao que tudo indica, esta controvérsia está longe de chegar ao fim.
A "indústria do coaching" está mais forte do que nunca. De acordo com uma reportagem da revista Exame além de movimentar, só nos Estados Unidos, mais de 2,3 bilhões de dólares por ano, o coaching tem atraído um número crescente de profissionais. Estima-se que este mercado conte, atualmente, com cerca de 53 mil profissionais em todo o mundo, 4 mil apenas na América Latina. No Brasil não se sabe ao certo o número de "coaches" inseridos no mercado, haja vista a multiplicação descontrolada de cursos de formação, mas acredita-se que tem crescido substancialmente nos últimos anos - e ainda que a quantidade de coaches esteja muito distante, por exemplo, do número de psicólogos (342 mil) e médicos (450 mil) que atuam no país, a atividade tem obtido uma visibilidade crescente, o que contribui tanto para o aumento da demanda pelos serviços de coaching quanto para a multiplicação de críticas e questionamentos. A novela da Rede Globo O outro lado do Paraíso, por exemplo, fez um merchandising descarado da atividade, bancado pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), e que acabou por tornar a prática ainda mais conhecida no país - mas também rendeu uma nota crítica do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e uma denúncia no Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar). Posteriormente o CFP publicou uma nota orientativa sobre a prática do coaching - afirmando, dentre outras coisas que, "qualquer profissional que não esteja inscrito no CRP, e que se utilizar de métodos e técnicas privativas do psicólogo durante sessões de coaching, ou que desenvolva, de alguma forma, atribuições restritas à Psicologia, estará incorrendo em exercício ilegal da profissão" - e um cidadão sergipano encaminhou à Câmara Federal uma ideia legislativa (absurda, na minha visão) que criminaliza a atividade de coaching - de acordo com ele, “se tornada lei, [a proposta] não permitirá o charlatanismo de muitos autointitulados formados até mesmo sem diploma válido. Não permitindo propagandas enganosas como 'reprogramação do DNA' e 'cura quântica', que desrespeitam o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas". Por outro lado, diversas instituições de coaching e os próprios coaches tem vindo a público defender a seriedade da prática e apontar para as diferenças entre o coaching e outras atividades de apoio e orientação. Ao que tudo indica, esta controvérsia está longe de chegar ao fim.
Mas afinal de contas, o que é esse tal "coaching"? Comecemos pela palavra, coach, que em inglês, significa originalmente carruagem - e que era usada também para se referir ao condutor da carruagem. Posteriormente a palavra foi usada para designar, no contexto universitário, o professor que exercia uma função de tutoria com seus estudantes. Mais a frente, a palavra passou a caracterizar a figura do treinador ou técnico esportivo. No entanto, em sua conotação atual, a expressão "coaching" superou em muito todas essas acepções, passando a designar qualquer atividade de orientação no qual uma pessoa (o "coach") ajuda outra (o "coachee") a obter determinado desempenho ou resultado, pessoal ou profissional. Como os "coaches" repetem à exaustão, o objetivo desse processo é "ajudar a pessoa a sair do ponto A e ir até o ponto B", tal como fazia o condutor de uma carruagem. Inicialmente, o coaching esteve fortemente ligado ao contexto empresarial/corporativo, no entanto, atualmente, a atividade se expandiu para muito além deste universo - o IBC, por exemplo, aponta para 16 tipos de coaching, dos quais destacarei apenas alguns: coaching corporativo, coaching familiar, coaching de relacionamento, coaching espiritual, coaching financeiro, coaching esportivo, coaching nutricional, coaching de liderança, etc. Em comum, todos esses tipos de coaching teriam como objetivo proporcionar aos clientes benefícios amplos como o "desenvolvimento pessoal e profissional", a "elevação da felicidade e realização", a "conquista do autoconhecimento e autodesenvolvimento", a "maximização da performance e dos resultados", o "aumento da produtividade" e muito mais. É possível observar nestes e em outros supostos benefícios da atividade um foco muito grande no "desempenho", na "produtividade", na "performance" e no "sucesso" do sujeito, linguagem que se relaciona fortemente ao contexto corporativo em que a prática teve origem.
Uma grande preocupação das instituições de coaching e dos próprios coaches está em diferenciar a prática de outras atividades de apoio e orientação, como a psicoterapia. Analisemos, por exemplo, a tabela ao lado extraída do livro Coaching executivo, escrito pela coach Rosa Krausz (para ampliar a tabela clique na imagem). Nela é possível observar a diferença apresentada pela autora, e repetida por muitos outros autores, entre a atividade de coaching e outras atividades como o aconselhamento, a mentoria, a consultoria, a terapia e o treinamento - eu focarei minha análise apenas na diferença apontada entre coaching e terapia. Pois bem, na visão da autora a terapia teria como "abrangência" as questões de saúde emocional dos clientes ou pacientes, como "tempo" o passado e como "resultado" o alívio ou a eliminação das causas do mal-estar e das dificuldades sentidas; já o coaching teria como "abrangência" as questões de desempenho, desafios e mudanças específicas dos coachees, como "tempo" o presente e o futuro e como "resultado" a criação de "opções construtivas, viáveis e informadas" que auxiliem o indivíduo a obter determinados resultados - o que significa dizer que o coaching não pretende tratar problemas de saúde mental mas levar o sujeito para além de onde ele se encontrava anteriormente. Como qualquer psicoterapeuta pode atestar, essa visão da autora está absolutamente equivocada. A atividade de psicoterapia, de uma forma geral, não tem como foco simplesmente o passado, mas também o presente e o futuro imaginado ou desejado pelo paciente. É claro que compreender o passado do sujeito é fundamental, para qualquer abordagem psicoterapêutica, mas isto não significa que o passado seja o foco ou que o presente e o futuro não sejam e não devam ser levados em consideração. Outro equívoco está em dizer que o resultado esperado de uma psicoterapia é o alívio ou a eliminação das causas do mal-estar do paciente. E o motivo é que simplesmente não é possível aliviar ou eliminar as causas de determinado problema. Se uma pessoa foi abusada na infância, por exemplo, e se sente mal com isso no presente, como poderíamos eliminar essa causa? Isso não é possível, pois causas não podem ser eliminadas, apenas "trabalhadas" terapeuticamente. O máximo que podemos fazer é ajudar nosso paciente a encarar o seu passado de uma outra maneira, ressignificando determinados acontecimentos ou vivências, e a agir, no presente, de uma forma diferente. De uma forma bem geral - sem levar em contas as especificidades das inúmeras abordagens psicoterapêuticas - é possível dizer que a psicoterapia tem como objetivo ajudar o paciente a superar ou lidar melhor com seus problemas atuais. Uma importante diferença da proposta do coaching, nesse sentido, é que, em geral, os psicoterapeutas não trabalham com a lógica e a linguagem corporativa. Isto significa que dificilmente um terapeuta atuará tendo como foco e objetivo o "desempenho", a "produtividade", a "performance" e o "sucesso" de seu paciente ou cliente. Certamente, algumas abordagens terapêuticas - como a Terapia Cognitivo-Comportamental - atuam de maneira mais focada e com metas ou objetivos terapêuticos mais claros, no entanto, mesmo em tais abordagens a intenção é proporcionar maior bem-estar (ou menor mal-estar) ao paciente - e nunca, ou muito raramente, maior "produtividade" ou "sucesso". Esse foco e essa linguagem empresarial, em geral, não estão presentes na psicoterapia.
Uma outra diferença entre as duas práticas é que a psicoterapia, ao menos quando praticada por um psicólogo (e cabe salientar que não se trata de uma prática exclusiva deste profissional), está sujeita a fiscalização pelo Conselho Federal de Psicologia e os profissionais podem receber sanções por comportamento equivocado ou anti-ético. Já o coaching não é uma profissão regulamentada, como a psicologia e a medicina, e não possui, portanto, órgãos ou conselhos de fiscalização profissional, e isso certamente favorece atuações equivocadas e pouco embasadas. Isto para não falar dos cursos de formação de coaches, comumente de curta duração, que se multiplicam pelo país sem qualquer controle. Também devido à falta de regulamentação, não há qualquer fiscalização relativa à qualidade de tais cursos, o que igualmente favorece a inserção no mercado de profisionais pouco e mal capacitados e com atuações no mínimo questionáveis. É claro que a formação na área da psicologia, por exemplo, está longe, muito longe, de ser perfeita - eu cheguei a escrever um artigo científico inteiramente dedicado a essa questão - e a atuação profissional de inúmeros psicólogos também deixa muito a desejar, mas a existência de um conselho profissional dedicado a orientar, disciplinar e fiscalizar nossa prática profissional, além de um código de ética unificado, minimiza muito tais problemas - sem o CFP a psicologia estaria ao "deus-dará", como ocorre atualmente com o coaching. Uma saída para esta situação, contrária à absurda proposta de criminalização encaminhada pelo cidadão sergipano, passa pela regulamentação da profissão de coaching. Criminalizar a atividade só fará com que as pessoas que atuam como coaches se tornem, de uma hora para outra, criminosas - e encham ainda mais nossas já cheias e desumanas prisões. Não consigo ver vantagem alguma nisso. Muito mais sensato seria regulamentar o coaching, criando regras bem claras de atuação e também mecanismos de fiscalização da formação e da prática. Como no caso das drogas, penso que não faz sentido lutar para acabar com o coaching. Mesmo que existam incontáveis "abusos" a melhor coisa a fazer é permitir a atuação e regulá-la. Criminalizar - o coaching e o uso de drogas - só piora qualquer situação.
Na minha visão, um grande problema do coaching - mas não só do coaching - é a colcha-de-retalho téorico-prática que embasa a atuação dos profissionais. Como aponta o site do IBC, "Coaching é um processo de desenvolvimento humano, pautado em diversas ciências como: Psicologia, Sociologia, Neurociências, Programação Neurolinguística, e que usa de técnicas da Administração de Empresas, Gestão de Pessoas e do universo dos esportes para apoiar pessoas e empresas no alcance de metas, no desenvolvimento acelerado e, em sua evolução contínua". A ideia parece ser buscar em cada uma dessas abordagens, teorias ou práticas alguns conhecimentos e atividades que possam ser úteis, bater tudo isso no liquidificador e servir ao cliente. O coaching, nesse sentido, se parece muito com a chamada Programação Neurolinguística (PNL), que o IBC afirma "pautar" a atividade. Se você nunca ouviu falar dessa abordagem - ou já ouviu falar mas não entende bem do que se trata - eu explico. A PNL foi desenvolvida na década de 1970, nos Estados Unidos, pelo analista de sistemas Richard Bandler juntamente com o linguista John
Grinder como uma abordagem pragmática, composta por um conjunto
de técnicas advindas de campos diversos, voltada para a
melhoria da comunicação e da aprendizagem e, logo, para o desenvolvimento pessoal. A expressão
Programação Neuroliguistica se refere a supostas ligações entre a experiência interna de uma pessoa (neuro), a
sua linguagem (linguística) e seus padrões de comportamento (programação) e não teria conexão direta com as
neurociências e com a computação, embora estas disciplinas interessassem aos seus desenvolvedores. A criação da PNL foi influenciada por inúmeras teorias ou abordagens, como a epistemologia cibernética de Gregory Bateson, a gramática transformacional de Noam Chomsky, a gestalt-terapia de Fritz Pearls, a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers,
a hipnoterapia Ericksoniana, a psicologia comportamental, dentre
outras. No entanto, apesar (ou em decorrência do fato) de ter sido influenciada por uma miríade de teorias, a PNL não se constituiu
enquanto uma teoria coesa sobre o comportamento humano, mas sim como um
conjunto de estratégias (denominado “modelagem”) voltadas para o desenvolvimento pessoal. Como afirmam seus criadores, “nós não
temos nenhuma ideia sobre a natureza‘real’ das coisas e nós não estamos
particularmente interessados no que é ‘verdadeiro’. A função da modelagem
é chegar a descrições que são úteis”. A PNL, assim, é guiada mais por um
interesse pragmático do que por uma teoria geradora coesa, situação idêntica à do coaching, que se constitui como uma espécie de bagunça teórico-prática - ou "mix de recursos e técnicas", como preferem chamar os coaches. A lógica parece ser juntar tudo o que for ou parecer útil para ajudar os clientes a atingir seus objetivos. Se para isto for necessário simplificar ou distorcer determinados conhecimentos - juntando uma xícara de psicologia de botequim, com uma colher de neurobobagem e de blá-blá-blá quântico e uma pitada de "reprogramação de DNA" - tudo bem. O que importa é o resultado, não o embasamento ou a coerência.
Esta falta de embasamento e coerência fica absolutamente clara ao analisarmos a proposta do "neurocoaching", que seria uma espécie de sub-abordagem de coaching baseada na neurociência. De acordo com os autores do artigo As contribuições da neurociência no processo de coaching, "com a evolução dos estudos a respeito da neurociência veio à tona algumas revelações a respeito do funcionamento do cérebro e os processos que definem os diferentes comportamentos humanos, abrindo assim novos caminhos para o coaching, que quando em conjunto com a neurociência passa a ser chamado de neurocoaching". Segundo os autores, aproximar as técnicas do coaching dos conhecimentos advindos da neurociência tornaria o processo do coaching ainda mais eficaz - de que forma? Em nenhum momento do texto ou de todos os textos que li sobre o tema isso fica claro, assim como não fica claro de que forma os conhecimentos (quais conhecimentos?) da neurociência poderiam ser úteis de alguma forma na prática do coaching. O máximo que encontrei foram afirmações vagas e imprecisas sobre o funcionamento cerebral. Veja por exemplo essa passagem do referido artigo: "a neurociência é capaz de identificar quais os bloqueios e quais dificuldades atrapalham o desenvolvimento de cada indivíduo e, quando trabalhado junto com o coaching pode tornar o processo ainda mais eficiente. Através do neurocoaching adquire-se um novo olhar sobre as dificuldades, onde o foco deixa de ser o problema e sim a solução". Adoraria saber de que forma "a neurociência" seria capaz de identificar os bloqueios e dificuldades do indivíduo. Não há nas referências do artigo uma menção sequer a qualquer artigo ou livro de neurociência que embase qualquer uma destas afirmações vagas sobre o funcionamento cerebral. Mas esta omissão tem um sentido claro. As neurociências e os conhecimentos que elas fornecem não importam; o que importa é que as neurociências aumentam a legitimidade do coaching. Em uma passagem reveladora e extremamente sincera deste artigo os autores apontam: "o fato de incorporar uma ciência ao coaching trouxe mais credibilidade, aumentando assim a aceitação das pessoas com relação a eficácia do processo". Pois é disto que se trata: de usar das ciências - isto é, de um conhecimento extremamente limitado e distorcido das ciências - para aumentar a aceitação das pessoas da prática do coaching. Não digo que esta seja a regra no universo do coaching, mas me parece, pelo que pude observar em inúmeros sites e videos de coaches, que se trata de uma prática bastante comum. Ao se misturar indiscriminadamente discursos, teorias e práticas provenientes das mais diversas áreas do conhecimento (administração, psicologia, neurociências, física quântica, PNL, etc) o resultado pode até ser útil e relevante para algumas pessoas, mas não deixa de ser confuso.
Uma grande preocupação das instituições de coaching e dos próprios coaches está em diferenciar a prática de outras atividades de apoio e orientação, como a psicoterapia. Analisemos, por exemplo, a tabela ao lado extraída do livro Coaching executivo, escrito pela coach Rosa Krausz (para ampliar a tabela clique na imagem). Nela é possível observar a diferença apresentada pela autora, e repetida por muitos outros autores, entre a atividade de coaching e outras atividades como o aconselhamento, a mentoria, a consultoria, a terapia e o treinamento - eu focarei minha análise apenas na diferença apontada entre coaching e terapia. Pois bem, na visão da autora a terapia teria como "abrangência" as questões de saúde emocional dos clientes ou pacientes, como "tempo" o passado e como "resultado" o alívio ou a eliminação das causas do mal-estar e das dificuldades sentidas; já o coaching teria como "abrangência" as questões de desempenho, desafios e mudanças específicas dos coachees, como "tempo" o presente e o futuro e como "resultado" a criação de "opções construtivas, viáveis e informadas" que auxiliem o indivíduo a obter determinados resultados - o que significa dizer que o coaching não pretende tratar problemas de saúde mental mas levar o sujeito para além de onde ele se encontrava anteriormente. Como qualquer psicoterapeuta pode atestar, essa visão da autora está absolutamente equivocada. A atividade de psicoterapia, de uma forma geral, não tem como foco simplesmente o passado, mas também o presente e o futuro imaginado ou desejado pelo paciente. É claro que compreender o passado do sujeito é fundamental, para qualquer abordagem psicoterapêutica, mas isto não significa que o passado seja o foco ou que o presente e o futuro não sejam e não devam ser levados em consideração. Outro equívoco está em dizer que o resultado esperado de uma psicoterapia é o alívio ou a eliminação das causas do mal-estar do paciente. E o motivo é que simplesmente não é possível aliviar ou eliminar as causas de determinado problema. Se uma pessoa foi abusada na infância, por exemplo, e se sente mal com isso no presente, como poderíamos eliminar essa causa? Isso não é possível, pois causas não podem ser eliminadas, apenas "trabalhadas" terapeuticamente. O máximo que podemos fazer é ajudar nosso paciente a encarar o seu passado de uma outra maneira, ressignificando determinados acontecimentos ou vivências, e a agir, no presente, de uma forma diferente. De uma forma bem geral - sem levar em contas as especificidades das inúmeras abordagens psicoterapêuticas - é possível dizer que a psicoterapia tem como objetivo ajudar o paciente a superar ou lidar melhor com seus problemas atuais. Uma importante diferença da proposta do coaching, nesse sentido, é que, em geral, os psicoterapeutas não trabalham com a lógica e a linguagem corporativa. Isto significa que dificilmente um terapeuta atuará tendo como foco e objetivo o "desempenho", a "produtividade", a "performance" e o "sucesso" de seu paciente ou cliente. Certamente, algumas abordagens terapêuticas - como a Terapia Cognitivo-Comportamental - atuam de maneira mais focada e com metas ou objetivos terapêuticos mais claros, no entanto, mesmo em tais abordagens a intenção é proporcionar maior bem-estar (ou menor mal-estar) ao paciente - e nunca, ou muito raramente, maior "produtividade" ou "sucesso". Esse foco e essa linguagem empresarial, em geral, não estão presentes na psicoterapia.
Uma outra diferença entre as duas práticas é que a psicoterapia, ao menos quando praticada por um psicólogo (e cabe salientar que não se trata de uma prática exclusiva deste profissional), está sujeita a fiscalização pelo Conselho Federal de Psicologia e os profissionais podem receber sanções por comportamento equivocado ou anti-ético. Já o coaching não é uma profissão regulamentada, como a psicologia e a medicina, e não possui, portanto, órgãos ou conselhos de fiscalização profissional, e isso certamente favorece atuações equivocadas e pouco embasadas. Isto para não falar dos cursos de formação de coaches, comumente de curta duração, que se multiplicam pelo país sem qualquer controle. Também devido à falta de regulamentação, não há qualquer fiscalização relativa à qualidade de tais cursos, o que igualmente favorece a inserção no mercado de profisionais pouco e mal capacitados e com atuações no mínimo questionáveis. É claro que a formação na área da psicologia, por exemplo, está longe, muito longe, de ser perfeita - eu cheguei a escrever um artigo científico inteiramente dedicado a essa questão - e a atuação profissional de inúmeros psicólogos também deixa muito a desejar, mas a existência de um conselho profissional dedicado a orientar, disciplinar e fiscalizar nossa prática profissional, além de um código de ética unificado, minimiza muito tais problemas - sem o CFP a psicologia estaria ao "deus-dará", como ocorre atualmente com o coaching. Uma saída para esta situação, contrária à absurda proposta de criminalização encaminhada pelo cidadão sergipano, passa pela regulamentação da profissão de coaching. Criminalizar a atividade só fará com que as pessoas que atuam como coaches se tornem, de uma hora para outra, criminosas - e encham ainda mais nossas já cheias e desumanas prisões. Não consigo ver vantagem alguma nisso. Muito mais sensato seria regulamentar o coaching, criando regras bem claras de atuação e também mecanismos de fiscalização da formação e da prática. Como no caso das drogas, penso que não faz sentido lutar para acabar com o coaching. Mesmo que existam incontáveis "abusos" a melhor coisa a fazer é permitir a atuação e regulá-la. Criminalizar - o coaching e o uso de drogas - só piora qualquer situação.
Esta falta de embasamento e coerência fica absolutamente clara ao analisarmos a proposta do "neurocoaching", que seria uma espécie de sub-abordagem de coaching baseada na neurociência. De acordo com os autores do artigo As contribuições da neurociência no processo de coaching, "com a evolução dos estudos a respeito da neurociência veio à tona algumas revelações a respeito do funcionamento do cérebro e os processos que definem os diferentes comportamentos humanos, abrindo assim novos caminhos para o coaching, que quando em conjunto com a neurociência passa a ser chamado de neurocoaching". Segundo os autores, aproximar as técnicas do coaching dos conhecimentos advindos da neurociência tornaria o processo do coaching ainda mais eficaz - de que forma? Em nenhum momento do texto ou de todos os textos que li sobre o tema isso fica claro, assim como não fica claro de que forma os conhecimentos (quais conhecimentos?) da neurociência poderiam ser úteis de alguma forma na prática do coaching. O máximo que encontrei foram afirmações vagas e imprecisas sobre o funcionamento cerebral. Veja por exemplo essa passagem do referido artigo: "a neurociência é capaz de identificar quais os bloqueios e quais dificuldades atrapalham o desenvolvimento de cada indivíduo e, quando trabalhado junto com o coaching pode tornar o processo ainda mais eficiente. Através do neurocoaching adquire-se um novo olhar sobre as dificuldades, onde o foco deixa de ser o problema e sim a solução". Adoraria saber de que forma "a neurociência" seria capaz de identificar os bloqueios e dificuldades do indivíduo. Não há nas referências do artigo uma menção sequer a qualquer artigo ou livro de neurociência que embase qualquer uma destas afirmações vagas sobre o funcionamento cerebral. Mas esta omissão tem um sentido claro. As neurociências e os conhecimentos que elas fornecem não importam; o que importa é que as neurociências aumentam a legitimidade do coaching. Em uma passagem reveladora e extremamente sincera deste artigo os autores apontam: "o fato de incorporar uma ciência ao coaching trouxe mais credibilidade, aumentando assim a aceitação das pessoas com relação a eficácia do processo". Pois é disto que se trata: de usar das ciências - isto é, de um conhecimento extremamente limitado e distorcido das ciências - para aumentar a aceitação das pessoas da prática do coaching. Não digo que esta seja a regra no universo do coaching, mas me parece, pelo que pude observar em inúmeros sites e videos de coaches, que se trata de uma prática bastante comum. Ao se misturar indiscriminadamente discursos, teorias e práticas provenientes das mais diversas áreas do conhecimento (administração, psicologia, neurociências, física quântica, PNL, etc) o resultado pode até ser útil e relevante para algumas pessoas, mas não deixa de ser confuso.
Veja também: Vendedores de (neuro)ilusões