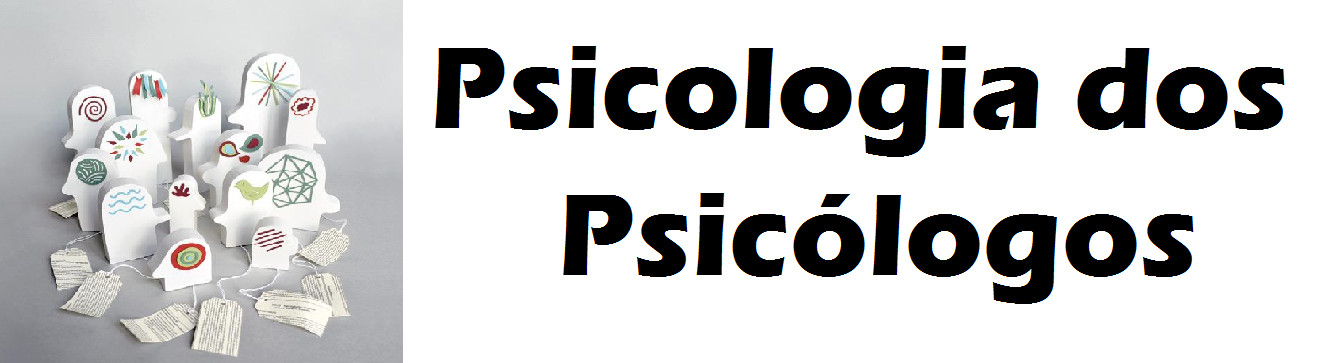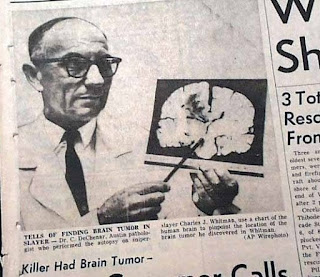Compartilho abaixo a tradução que fiz do interessante artigo One is the loneliest number: the history of a Western problem, publicado no site AEON no dia 12 de Setembro de 2018 pela historiadora britânica Fay Bound Alberti, que é co-fundadora do Centro para a História das Emoções da Universidade Queen Mary de Londres e autora de diversos livros, dentre eles A Biography of Loneliness, que será lançado em 2019.
"Deus, a vida é solitária", declarou a escritora Sylvia Plath em seus diários privados. Apesar de todos os gracejos e sorrisos que trocamos, ela disse, apesar de todos os opiácios que usamos: "quando você finalmente encontra alguém em quem seria capaz de derramar sua alma, você é incapaz de continuar, chocada com as palavras que pronuncia – elas são tão desbotadas, tão feias, tão sem sentido e débeis por terem passado tanto tempo em uma escuridão estreita dentro de você".
No século 21, a solidão tornou-se onipresente. Os comentaristas chamam de "uma epidemia", uma condição semelhante à "lepra" e uma "praga silenciosa" da civilização. Em 2018, o Reino Unido chegou ao ponto de nomear um Ministro da Solidão. No entanto, a solidão não é uma condição universal; nem é uma experiência interna puramente visceral. É menos uma simples emoção e mais um conjunto complexo de sentimentos, composto de raiva, luto, medo, ansiedade, tristeza e vergonha. A solidão também tem dimensões sociais e políticas, transformando-se através do tempo de acordo com concepções relativas ao self, a Deus e ao mundo natural. A solidão, em outras palavras, tem uma história.
O termo loneliness (solidão) surge pela primeira vez na língua inglesa por volta de 1800. Antes disso, a palavra mais próxima era oneliness, simplesmente o estado de estar sozinho. Assim como solitude - do latim 'solus' que significava 'só' - a oneliness não foi caracterizada pela ausência de emoções. A solitude ou a oneliness não eram patológicas ou indesejáveis, mas, acima de tudo, entendidas como um espaço necessário para a reflexão com Deus, ou com os pensamentos mais profundos. Já que Deus estava sempre por perto, uma pessoa nunca estava realmente sozinha. No entanto, dando um salto de um século ou dois, o uso do termo loneliness - sobrecarregado de associações com as ideias de vazio e falta de conexão social - ofuscou completamente o termo oneliness. O que aconteceu?
A noção contemporânea de solidão deriva de transformações culturais e econômicas que ocorreram no Ocidente moderno. A industrialização, o crescimento da economia de consumo, o declínio da influência da religião e a popularidade da biologia evolutiva serviram para enfatizar que o indivíduo era tudo o que importava - e não visões tradicionais e paternalistas de uma sociedade em que cada um tinha um lugar definido.
No século XIX, filósofos políticos usaram as teorias de Charles Darwin sobre a "sobrevivência do mais apto" para justificar a busca dos vitorianos pela riqueza individual. A medicina científica, com ênfase nas emoções e experiências centradas no cérebro [brain-centred], e a classificação do corpo em estados "normais" e anormais, sublinhou essa mudança. Os quatro humores (fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico), que dominaram a medicina ocidental por 2.000 anos e classificaram as pessoas em "tipos", foram substituídos por um novo modelo de saúde dependente do corpo físico individual.
No século XX, as novas ciências da mente - especialmente a psiquiatria e a psicologia - ocuparam um lugar central na definição das emoções saudáveis e patológicas que um indivíduo deveria experimentar. Carl Jung foi o primeiro a identificar as personalidades "introvertidas" [introvert] e "extrovertidas" [extravert] na obra Tipos psicológicos (1921). A introversão foi associada ao neuroticismo e à solidão, ao passo que a extroversão à sociabilidade, ao espírito gregário [gregariousness] e à autoconfiança. Nos Estados Unidos, essas idéias adquiriram um significado especial na medida em que estavam atreladas a qualidades individuais relacionadas ao autodesenvolvimento, à independência e ao "sonho americano".
As associações negativas com a introversão ajudam a explicar por que a solidão agora carrega esse estigma social. As pessoas solitárias raramente querem admitir que estão sozinhas. Enquanto a solidão pode criar empatia, as pessoas solitárias podem ser motivo de desprezo; aqueles com fortes redes sociais geralmente evitam a solidão. É quase como se a solidão fosse contagiosa, tal qual as doenças com as quais ela é comparada atualmente. Quando usamos a linguagem de uma epidemia moderna, nós contribuímos para um pânico moral a respeito da solidão que pode agravar o problema subjacente. Presumir que a solidão é uma aflição generalizada e fundamentalmente individual, tornará quase impossível enfrentá-la.
Por séculos, os escritores reconheceram a relação entre saúde mental e o pertencimento a uma comunidade. Servir a sociedade era outra maneira de servir ao indivíduo - afinal, como escreveu o poeta Alexander Pope em seu poema An essay on Man (1734): "True self-love and social are the same". Não surpreende, portanto, descobrir que a solidão serve tanto a uma função fisiológica quanto a uma função social, como argumentou o falecido neurocientista John Cacioppo: como a fome, a solidão assinala uma ameaça ao nosso bem-estar, nascida da exclusão de nosso grupo ou tribo.
"Nenhum homem é uma ilha", escreveu o poeta John Donne, com espírito semelhante, na obra Devotions upon emergent occasions (1624) - nenhuma mulher também, pois cada um forma "uma parte do continente, uma parte da terra". Se um "torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída ... a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade". Para alguns de nós, os comentários de Donne assumem uma pungência especial à luz da saída do Reino Unido da Europa, ou do narcisismo da presidência de Donald Trump nos EUA. Eles também nos remetem a metáforas médicas: as referências de Donne ao corpo político sendo destruído são remicicentes da ideia de que a solidão moderna é como uma aflição física, uma praga da modernidade.
Precisamos urgentemente de uma avaliação mais nuançada a respeito de quem é solitário, quando e por quê. A solidão é lamentada pelos políticos por ser dispendiosa, especialmente para uma população que envelhece. Pessoas solitárias são mais propensas a desenvolver enfermidades como o câncer, as doenças cardíacas e a depressão, e possuem 50% mais chances de morrer prematuramente do que as não solitárias. Mas não há nada de inevitável em ser velho e sozinho - mesmo no Reino Unido e nos EUA, onde, ao contrário de grande parte da Europa, não há uma história de cuidado inter-familiar dos idosos. A solidão e o individualismo econômico estão conectados.
Até a década de 1830, no Reino Unido, as pessoas idosas eram cuidadas por vizinhos, amigos e familiares, bem como pela paróquia. Mas então o Parlamento aprovou a Nova Lei dos Pobres [New poor law], uma reforma que aboliu a ajuda financeira para as pessoas, exceto para os idosos e enfermos, restringindo-a àqueles que viviam em asilos [workhouses] e considerou a assistência à pobreza [poverty relief] como empréstimos que eram administrados por um processo burocrático e impessoal. A ascensão da vida nas cidades e o colapso das comunidades locais, assim como o agrupamento dos necessitados em prédios construídos para este propósito, produziram pessoas mais isoladas e idosas. É provável, dadas as suas histórias, que países mais individualistas (que incluem o Reino Unido, a África do Sul, os EUA, a Alemanha e a Austrália) experimentem a solidão de forma diferente de países mais coletivistas (como o Japão, a China, a Coréia, a Guatemala, a Argentina e o Brasil). A solidão, desta forma, é experimentada de forma diferente de lugar para lugar e ao longo do tempo.
Com tudo isso não se pretendeu romantizar a vida comunitária ou mesmo sugerir que não houve isolamento social antes do período vitoriano. Acima de tudo, minha argumentação é que as emoções humanas são inseparáveis de seus contextos sociais, econômicos e ideológicos. A raiva legítima dos moralmente ofendidos, por exemplo, seria impossível sem a crença no certo e no errado e em uma responsabilidade pessoal. Da mesma forma, a solidão só pode existir em um mundo onde o indivíduo é concebido como separado, ao invés de parte do tecido social. Não há dúvidas de que a ascensão do individualismo corroeu os laços sociais e comunitários e conduziu a uma linguagem de solidão [language of loneliness] que não existia antes de 1800.
Se antigamente os filósofos perguntavam o que era necessário para viver uma vida significativa, o foco cultural mudou para questões relativas à escolha individual, desejo e realização. Não é coincidência que o termo "individualismo" tenha sido usado pela primeira vez (e era um termo pejorativo) na década de 1830, ao mesmo tempo em que a solidão estava em ascensão. Se a solidão é uma epidemia moderna, então suas causas também são modernas - e uma consciência de sua história pode ser a nossa salvação.
Observação: o título original deste artigo, One is the loneliest number [O um é o número mais solitário] faz referência a uma música do cantor e compositor Harry Nisson, lançada em 1968, e que já foi regravada por inúmeros artistas, ficando mais conhecida na voz da cantora Aimee Man, cuja versão faz parte da trilha sonora do maravilhoso filme Magnólia (1999) - ouça aqui.
Observação: o título original deste artigo, One is the loneliest number [O um é o número mais solitário] faz referência a uma música do cantor e compositor Harry Nisson, lançada em 1968, e que já foi regravada por inúmeros artistas, ficando mais conhecida na voz da cantora Aimee Man, cuja versão faz parte da trilha sonora do maravilhoso filme Magnólia (1999) - ouça aqui.