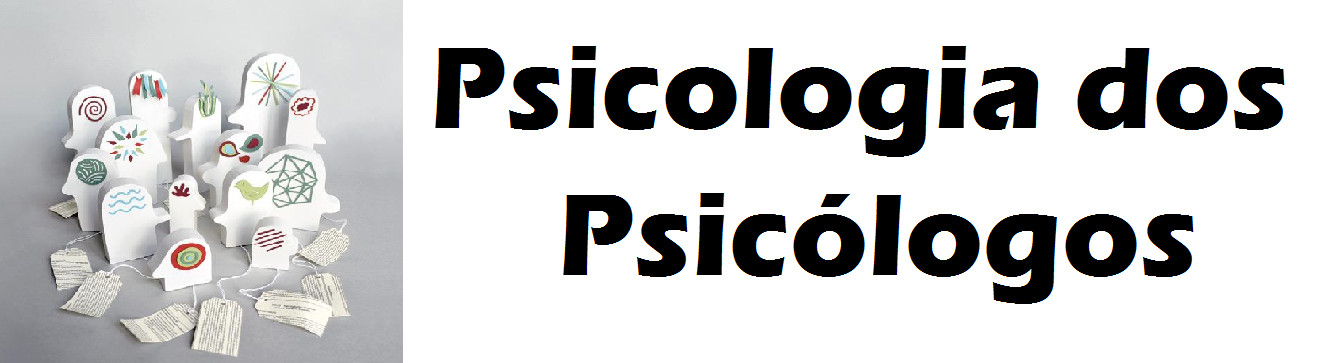No dia 10 de Setembro de 2019, a revista The Atlantic publicou um excelente artigo da jornalista científica Bahar Gholipour denominado A Famous Argument Against Free Will Has Been Debunked. Segue a tradução amadora que fiz desse texto. Aliás, já comentei sobre sobre o assunto deste artigo em um post antigo do blog denominado Eu sou meu cérebro? Reflexões sobre liberdade e determinismo.
A morte do livre-arbítrio teve início com milhares de leves batidas dos dedos. Em 1964, dois cientistas alemães monitoraram a atividade elétrica do cérebro de uma dúzia de pessoas. Todos os dias, durante vários meses, os voluntários iam ao laboratório de cientistas da Universidade de Freiburg para terem fios conectados ao couro cabeludo advindos de uma engenhoca semelhante a um chuveiro. Os participantes permaneciam sentados em uma cadeira situada em uma cabine de metal, e tinham que executar apenas uma tarefa: flexionar um dedo da mão direita a qualquer intervalo irregular de tempo que os agradasse, repetidamente, até 500 vezes por visita.
O objetivo deste experimento foi procurar sinais no cérebro dos participantes que precediam cada movimento do dedo. Naquele momento, os pesquisadores sabiam como medir a atividade cerebral que ocorria em resposta a eventos do mundo exterior - quando uma pessoa ouve uma música ou olha uma foto, por exemplo -, mas ninguém havia descoberto como isolar os sinais do cérebro de alguém iniciando uma ação.
O objetivo deste experimento foi procurar sinais no cérebro dos participantes que precediam cada movimento do dedo. Naquele momento, os pesquisadores sabiam como medir a atividade cerebral que ocorria em resposta a eventos do mundo exterior - quando uma pessoa ouve uma música ou olha uma foto, por exemplo -, mas ninguém havia descoberto como isolar os sinais do cérebro de alguém iniciando uma ação.
Os resultados do experimento vieram em linhas rabiscadas e pontilhadas, uma representação das mudanças nas ondas cerebrais. Nos milissegundos que antecediam os movimentos dos dedos, as linhas mostravam um aumento fraco, quase indetectável: uma onda que se elevou por cerca de um segundo, como um breve rufar de tambores neuronal, e que terminou abruptamente. Essa perturbação da atividade neuronal, que os cientistas chamaram de potencial de Bereitschafts [Bereitschaftspotential], ou potencial de prontidão, era como uma viagem infinitesimal no tempo. Pela primeira vez, eles puderam ver o cérebro se preparando para criar um movimento voluntário.
Essa importante descoberta foi o começo de muitos problemas na neurociência. Vinte anos depois, o fisiologista norte-americano Benjamin Libet usou o potencial de Bereitschafts para demonstrar não apenas que o cérebro mostra sinais de uma decisão antes da pessoa agir, mas que, incrivelmente, o mecanismo cerebral começa a se alterar antes que a pessoa tenha a intenção consciente de fazer algo. De repente, as escolhas das pessoas - mesmo um simples movimento de dedo - pareciam ser determinadas por algo fora de sua própria vontade consciente.
A questão filosófica de se os seres humanos têm controle sobre suas próprias ações teve inicio séculos antes de Libet entrar no laboratório. Mas Libet introduziu um argumento neurológico genuíno contra o livre-arbítrio. Seu achado desencadeou uma nova onda de debates no meio científico e filosófico. E, com o tempo, suas implicações foram transformadas em tradição cultural.
A questão filosófica de se os seres humanos têm controle sobre suas próprias ações teve inicio séculos antes de Libet entrar no laboratório. Mas Libet introduziu um argumento neurológico genuíno contra o livre-arbítrio. Seu achado desencadeou uma nova onda de debates no meio científico e filosófico. E, com o tempo, suas implicações foram transformadas em tradição cultural.
Atualmente, a noção de que nossos cérebros fazem escolhas antes mesmo de tomarmos consciência poderá aparecer em uma conversa informal em uma festa ou em uma resenha da série Black Mirror. Esta questão também tem sido tratada pelos principais veículos de jornalismo, incluindo This American Life, Radiolab e esta revista [The Atlantic]. O trabalho de Libet é freqüentemente trazido à tona por intelectuais populares como Sam Harris e Yuval Noah Harari para argumentar que a ciência teria provado que os seres humanos não são os autores de suas ações.
Seria uma enorme façanha para um sinal cerebral 100 vezes menor que as principais ondas cerebrais resolver o problema do livre-arbítrio. Mas a história do potencial Bereitschafts tem mais uma reviravolta: pode ser algo completamente diferente.
O potencial de Bereitschafts nunca foi concebido para se envolver em debates sobre o livre-arbítrio. Na verdade, buscou-se mostrar que o cérebro tem uma espécie de vontade [will of sorts]. Os dois cientistas alemães que o descobriram, um jovem neurologista chamado Hans Helmut Kornhuber e seu aluno de doutorado Lüder Deecke, ficaram frustrados com a abordagem científica de sua época que entendia o cérebro como uma máquina passiva que apenas produzia pensamentos e ações em resposta ao mundo exterior. Em um almoço em 1964, os dois decidiram descobrir como o cérebro trabalhava para gerar espontaneamente uma ação. “Kornhuber e eu acreditávamos no livre-arbítrio”, diz Deecke, que agora tem 81 anos e vive em Viena.
Para realizar o experimento, a dupla teve que criar alguns truques para contornar a tecnologia limitada. Eles possuíam um computador de última geração para medir as ondas cerebrais de seus participantes, mas ele só funcionava depois que um movimento no dedo era detectado. Então, para coletar dados sobre o que acontecia no cérebro antes desse movimento, os dois pesquisadores se deram conta que podiam registrar a atividade cerebral de seus participantes separadamente em fita e depois reproduzí-las de frente para trás no computador. Essa técnica inventiva, apelidada de "média reversa" [reverse-averaging], revelou o potencial de Bereitschafts.
A descoberta atraiu grande atenção. O ganhador do prêmio Nobel John Eccles e o proeminente filósofo da ciência Karl Popper compararam a ingenuidade do estudo ao uso de bolas deslizantes por Galileu para descobrir as leis do movimento do universo. Com um punhado de eletrodos e um gravador, Kornhuber e Deecke começaram a fazer o mesmo pelo cérebro.
O que o potencial de Bereitschafts realmente significava, no entanto, era uma incógnita. Seu padrão crescente parecia refletir os dominós da atividade neural caindo um a um em uma trilha enquanto uma pessoa fazia alguma coisa. Os cientistas explicaram o potencial de Bereitschafts como o sinal eletrofisiológico envolvido no planejamento e no início de uma ação. Baseada nessa ideia estava a suposição implícita de que o potencial de Bereitschafts causava essa ação. A suposição era tão natural que, na verdade, ninguém a questionou - nem a testou.
Pesquisador da Universidade da Califórnia em San Francisco, Libet questionou o potencial de Bereitschafts de uma maneira diferente. Por que demora meio segundo ou mais entre a pessoa decidir movimentar um dedo e realmente fazê-lo? Ele repetiu o experimento de Kornhuber e Deecke, mas pediu aos participantes que observassem um aparelho semelhante a um relógio de forma que se lembrassem do momento em que tomaram a decisão. Os resultados mostraram que, enquanto o potencial de Bereitschafts começou a aumentar cerca de 500 milissegundos antes que os participantes realizassem uma ação, eles relataram sua decisão de realizar essa ação apenas cerca de 150 milissegundos antes. "O cérebro evidentemente 'decide' iniciar o ato" antes que a pessoa tenha consciência de que a decisão ocorreu, concluiu Libet.
Para muitos cientistas, parecia implausível que nossa consciência de uma decisão fosse apenas uma reflexão posterior ilusória [illusory afterthought]. Os pesquisadores questionaram o projeto experimental de Libet, incluindo a precisão das ferramentas usadas por ele para medir as ondas cerebrais e a exatidão com que as pessoas poderiam realmente se lembrar de seu tempo de decisão. Mas falhas eram difíceis de identificar. E Libet, que faleceu em 2007, tinha tantos defensores quanto críticos. Nas décadas posteriores a seu experimento, estudo após estudo replicou sua descoberta usando tecnologias mais modernas, como a ressonância magnética funcional (fMRI).
Mas um aspecto dos resultados de Libet passou em branco sem grandes questionamentos: a possibilidade de que o que ele estava vendo fosse exato, mas que suas conclusões fossem baseadas em uma premissa equivocada. E se o potencial Bereitschafts não causasse as ações? Alguns estudos notáveis sugeriram isso, mas eles não forneceram nenhuma pista a respeito de qual poderia ser a função do potencial do Bereitschafts. Para desmontar uma idéia tão poderosa, alguém teve que oferecer uma alternativa real.
Em 2010, Aaron Schurger teve uma epifania. Como pesquisador do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica de Paris, Schurger estudou as flutuações na atividade neuronal, o zumbido agitado no cérebro que emerge da oscilação espontânea de centenas de milhares de neurônios interconectados. Esse ruído eletrofisiológico contínuo sobe e desce em marés lentas, como a superfície do oceano - ou como qualquer coisa que resulte de muitas partes em movimento. “Quase todos os fenômenos naturais que eu consigo pensar se comportam dessa maneira. Por exemplo, o mercado de ações ou o clima”, diz Schurger.
De uma forma geral, todos esses casos de dados barulhentos [noisy data] se assemelham a qualquer outro barulho desprovido de padrão. Mas ocorreu a Schurger que, se alguém alinhasse esses dados por seus pontos mais altos (tempestades, recordes de mercado) e calculasse a média inversa da maneira proposta pela abordagem inovadora de Kornhuber e Deecke, as representações visuais dos resultados pareceriam tendências de crescimento [climbing trends] (uma intensificação do clima, um aumento das ações). Não haveria nenhum propósito por detrás dessas tendências aparentes - nenhum plano prévio que causasse uma tempestade ou fortalecesse o mercado. De fato, o padrão refletiria simplesmente como vários fatores ocorreram de coincidir.
"Eu pensei: espere um minuto", diz Schurger. Se ele aplicasse o mesmo método ao ruído cerebral espontâneo que estudou, o que ele obteria? "Olhei para minha tela e vi algo parecido com o potencial do Bereitschafts". Schurger percebeu que o padrão crescente do potencial do Bereitschafts não era uma marca da intenção de um cérebro, mas algo muito mais circunstancial.
Dois anos depois, Schurger e seus colegas Jacobo Sitt e Stanislas Dehaene propuseram uma explicação. Os neurocientistas sabem que para as pessoas tomarem qualquer tipo de decisão, nossos neurônios precisam reunir evidências para cada opção. A decisão é tomada quando um grupo de neurônios acumula uma certa quantidade de evidências. Às vezes, essa evidência vem de informações sensoriais do mundo exterior: se você estiver assistindo a neve cair, seu cérebro irá comparar o número de flocos de neve caindo contra os poucos levados pelo vento e rapidamente entenderá que a neve está se movendo para baixo.
De acordo com Schurger o experimento de Libet não forneceu a seus sujeitos nenhuma pista externa. Para decidir quando movimentar os dedos, os participantes simplesmente agiam quando achavam melhor. Schurger argumentou que esses momentos espontâneos devem ter coincidido com o fluxo e refluxo aleatório da atividade cerebral dos participantes. Seria mais provável que eles mexessem os dedos quando o sistema motor estivesse mais próximo de um limiar para o início do movimento.
Isso não implicaria, como Libet pensara, que o cérebro das pessoas "decidisse" mexer os dedos antes que elas percebessem. Dificilmente. Em vez disso, isso significaria que a atividade barulhenta no cérebro das pessoas às vezes declina, se não houver mais nada em que basear uma escolha, salvando-nos de uma indecisão sem fim quando confrontados com uma tarefa arbitrária. O potencial de Bereitschafts seria a parte crescente das flutuações cerebrais que tendem a coincidir com as decisões. Esta é uma situação altamente específica, não um caso geral para todas ou mesmo para muitas escolhas.
Outros estudos recentes apóiam a idéia do potencial Bereitschafts como um sinal de quebra de simetria [symmetry-breaking signal]. Em um estudo com macacos desafiados a escolher entre duas opções iguais, uma equipe separada de pesquisadores observou que a escolha posterior de um macaco se correlacionava com sua atividade cerebral intrínseca antes que o macaco fosse apresentado às opções.
Em um novo estudo ainda em revisão para publicação no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, Schurger e dois pesquisadores de Princeton repetiram uma versão do experimento de Libet. Para evitar o ruído cerebral não-intencional, eles incluíram uma condição de controle na qual as pessoas não se mexiam. Um classificador de inteligência artificial [artificial-intelligence classifier] permitiu que eles descobrissem em que momento a atividade cerebral nas duas condições divergia. Se Libet estivesse certo, isso deveria ter acontecido 500 milissegundos antes do movimento. Mas o algoritmo não conseguiu distinguir nenhuma diferença até apenas 150 milissegundos antes do movimento, quando as pessoas relataram tomar decisões no experimento original de Libet.
Em outras palavras, a experiência subjetiva de decisão de uma pessoa - que o estudo de Libet parecia sugerir ser apenas uma ilusão - parecia coincidir com o momento real em que seus cérebros mostravam tomar uma decisão.
Quando Schurger propôs pela primeira vez a explicação do ruído neural [neural-noise explanation], em 2012, o artigo não recebeu muita atenção externa, mas criou um burburinho na neurociência. Schurger recebeu prêmios por derrubar uma idéia de longa data. “Mostrou que o potencial Bereitschafts pode não ser o que pensávamos. Talvez ele seja, em algum sentido um artefato [artifactual] relacionado à forma como analisamos nossos dados”, diz Uri Maoz, neurocientista computacional da Chapman University.
Para uma mudança de paradigma, o trabalho encontrou uma resistência mínima. Schurger parecia ter descoberto um erro científico clássico, tão sutil que ninguém havia notado e nenhuma quantidade de estudos de replicação poderia resolvê-lo, a menos que começassem a testar a causalidade. Agora, tanto pesquisadores que questionaram Libet quanto aqueles que o apoiaram estão deixando de basear suas experiências no potencial de Bereitschafts (As poucas pessoas que encontrei ainda defendendo a visão tradicional confessaram que não haviam lido o artigo de Schurger de 2012).
"Isso abriu minha mente", diz Patrick Haggard, neurocientista da University College London que colaborou com Libet e reproduziu os experimentos originais.
 Tudo o que fazemos é determinado pelo encadeamento de causas e efeitos dos genes, do ambiente e das células que compõem nosso cérebro, ou podemos criar livremente intenções que influenciam nossas ações no mundo? O tópico é imensamente complicado, e o desmascaramento valioso de Schurger ressalta a necessidade de perguntas mais precisas e mais bem informadas.
Tudo o que fazemos é determinado pelo encadeamento de causas e efeitos dos genes, do ambiente e das células que compõem nosso cérebro, ou podemos criar livremente intenções que influenciam nossas ações no mundo? O tópico é imensamente complicado, e o desmascaramento valioso de Schurger ressalta a necessidade de perguntas mais precisas e mais bem informadas.
“Os filósofos debatem sobre o livre-arbítrio há milênios e eles tem avançado nesta questão. Mas os neurocientistas invadiram a questão como um elefante em uma loja de porcelana e alegaram tê-la resolvido de uma só vez”, diz Maoz. Na tentativa de colocar todos do mesmo lado, ele lidera a primeira colaboração intensiva de pesquisa entre neurocientistas e filósofos, apoiada em 7 milhões de dólares de duas fundações privadas, a John Templeton Foundation e o Fetzer Institute. Em uma conferência inaugural em março, os participantes discutiram planos para criar experimentos filosoficamente informados e concordaram unanimemente com a necessidade de definir os vários significados de "livre-arbítrio".
Fazendo isso, eles se juntam ao próprio Libet. Enquanto permaneceu firme na interpretação de seu estudo, ele achou que seu experimento não era suficiente para provar o determinismo total - a idéia de que todos os eventos são determinados por anteriores eventos, incluindo nossas próprias funções mentais. "Dado que a questão é tão fundamentalmente importante para nossa visão de quem somos, uma alegação de que nosso livre-arbítrio é ilusório deve ser baseada em evidências bastante diretas", ele escreveu em um livro de 2004. "Essa evidência não está disponível".